|
Basta apenas uma fonte de luz, projetada através de uma lente na direção de uma tela em branco. No meio do caminho, a luz atravessa uma chapa de vidro, brilhante como uma multifacetada jóia, pintada com cenas do cotidiano, cenas engraçadas ou dramáticas transfiguradas do cinzento cotidiano. Ou então são cenas fantásticas, de naufrágios, de fantasmas, o próprio inferno projetado em suas cores mais espalhafatosas, em suas formas mais aberrantes. O espetáculo de lanterna mágica, acessível nos dias de hoje apenas através de recriações em certas performances artísticas ou evocado nas narrativas de autores como Balzac, na visionária filosofia teológica de Swedenborg e na paciente reconstrução conceitual realizada por historiadores como Laurent Mannoni, foi a base imaginária destas narrativas, elas mesmas chapas de vidro moldadas na vida e na obra de autores únicos, à margem dos processos usuais de canonização que tornam a Cultura algo previsível.
Tais espetáculos noturnos foram traduzidos para a forma de livro pelo paciente trabalho editorial de Dan Ghetu e pela criteriosa revisão do material original pelo extraordinário Damian Murphy. Em sua forma final, o show de luz e sombra tornou-se algo mais, um grimório tão imaginário quanto o catálogo de fantasmagorias usadas por Christiaan Huygens para impressionar seus amigos com sua última invenção, a lanterna mágica. Com a diferença que Lanterns of the Old Night é real. As fotos abaixo foram gentilmente cedidas por Dan Ghetu. O livro começa a se distribuído amanhã, dia 07 de junho de 2016.
0 Comments
Há um momento vertiginoso, que pode ocorrer diariamente ou ao menos uma vez na vida de cada um, quando percebemos que tudo ao nosso redor é oco, vazio, e que a vida é sonho. Trata-se, claro, de um clichê – verdadeiro, mas ainda um clichê. Talvez seja melhor reformula-lo: nosso tempo é imóvel. Como a flecha do paradoxo de Zenão de Eleia, vivemos na imobilidade estática, permanente. Nossos gadgets, guerras, refugiados e problemas cotidianos não passam de uma espuma que agita brevemente um mar turbulento. Assim, vivemos ainda o tempo das vanguardas artísticas. Somos movidos pelos mesmos paradoxos, nos emocionam os mesmos dramas, nos escandalizam as mesmas técnicas de épater la bourgeoisie. Talvez, isso aconteça pelo fato dos artistas envolvidos com as vanguardas no início do século XX tenham descoberto o segredo para a criação de um novo gênero narrativo e teatral: a tragédia universal – ou talvez comédia universal, pois os dois gêneros fluem em paralelo nesse novo gênero. A produção nesse gênero inédito foi única: um drama, imenso e contínuo, cujo tema central é a aniquilação da arte.
Nesse novo tipo de arte total inaugurada pelas vanguardas, o público em escala global é convidado a tomar parte em um ato no qual os artistas e suas criações são esmagados por inúmeras forças repressivas, mas mesmo assim buscam desesperadamente manter-se vivos e conscientes, a despeito da violência e das tentações que incluem a venda de almas em leilão. Assim, cada retrato, cada imagem, cada pintura, cada história, cada drama das vanguardas do século XX sugaria seu público para o interior dessa peça sem palcos, a voragem de uma outra época, aparentemente remota; quando contemplamos uma pintura como La città che sale (A cidade ascende), de Umberto Boccioni, realizada em 1910, temos exatamente essa sensação, ainda que ignoremos seu criador ou o tema central da composição. As formas dinâmicas de homens e cavalos na imagem de Boccioni levam o espectador a um abismo vertiginoso, um outro tempo, ou melhor ainda, uma outra possibilidade temporal, na qual a tensão dramática é permanente. Dessa forma, as justas preocupações de nossa época perecem desaparecer diante das incertezas da Revolução Bolchevique, da barbárie estilizada do fascismo, do cotidiano terrível da hiperinflação, das guerras civis, européias, mundiais. Se tivéssemos de batizar esse gênero de uma única obra, inaugurado pelas vanguardas do início século XX e ainda pulsante e contínuo, poderíamos empregar um termo sintético, eficaz: Conflagração. Não por acaso, esse é o título do novo trabalho de D. P. Watt, publicado pela Ex Occidente Press de Bucareste através de sua nova persona editorial, a série Mount Abraxas. O novo livro de Watt possui um formato curioso: quadrangular, algo que o editor já havia empregado na série L’homme recent mas em um formato ainda maior. A sobrecapa apresenta uma ilustração contínua (realizada por Misanthropic Art), como um pôster, a imagem de um Sol negro ao centro, mediando entre uma mão de proporções imensas, divinas, e olhos igualmente enormes, os dois campos marcados pela presença de formas humanas ornamentais. Diante dessa sobrecapa extraordinária, a capa minimalista, padrão da editora, fornece um eficaz contraponto, com sua textura de pelagem animal, seu baixo relevo e sua cor alaranjada (seguida pelo marcador de página). Logo que começamos a leitura do livro (após a extraordinária fotografia que serve de frontispício ao livro, “Multiple self-portrait in mirrors”, de Stanisław Ignacy Witkiewicz) somos surpreendidos por um folheto que nos apresenta as “Instruções para o Leitor”. Tais instruções começam da seguinte forma: “Por favor, leia este texto de uma única vez, começando precisamente às 19:30 de uma noite qualquer.” Tal procedimento, orientar o hipotético leitor em uma forma de leitura aconselhável segundo o autor, foi empregado com finalidades semelhantes por Julio Cortázar em seu experimento romanesco Rayuela (O jogo da amarelinha); como no caso de Cortázar, Watt nos convida a desobedecer as regras do jogo por ele estabelecido, o que aliás fizemos, exatamente como Des Lewis em sua excelente resenha de Conflagration (que pode ser vista aqui). Logo após esse primeiro momento de estranhamento, temos a Dramatis Personae aos moldes de uma peça de teatro. Nessa lista, surgem os nomes dos diversos inovadores vanguardistas do teatro no século XX, de Alfred Jarry a Jean Genet, de Bertolt Brecht a Eugene Ionesco, de Vsevolod Meyerhold a Samuel Beckett. Mas os textos breves do livro não constituem a estrutura tradicional de uma peça de teatro adaptada ao formato de um livro; são narrativas breves e fluidas, marcadas por uma data e um título topográfico, uma indicação de lugar como “As ruas de Trieste” ou “Galerie Montaigne, Paris”. Essas pequenas narrativas se estabelecem no equilíbrio entre o abstrato, o fantástico, o cômico e o trágico. Nesse sentido, o subtítulo é revelador: são “vinhetas imorais”, cenas breves que poderiam ser encenadas como imaginativas e críticas (ou irônicas) reformulações da história do teatro contemporâneo. Assim, o universo de Beckett ressurge no interior da França desolada pela guerra. La cantatrice chauve de Ionesco materializa-se no seu provável momento de concepção. A tragédia de Meyerhold se desenvolve com nitidez diante do leitor, até seu inevitável fim decretado pela ortodoxia stalinista. Mas esses são apenas alguns fragmentos, algumas dessas vinhetas vorazes que parecem sumarizar toda a história contemporânea e se iniciam em Braunau Am Inn, a 20 de abril de 1899. Em uma dessas vinhetas, “Sprovieri Gallery, Rome”, temos uma descrição viva e dinâmica do teatro futurista italiano. Dado momento, somos informados que as imagens empregadas como pano de fundo dessas apresentações, representações da velocidade e da força de veículos mecânicos baseadas no carnaval napolitano, “descreviam apenas a paixão de sua própria concepção”. Talvez, essa seja a melhor maneira de descrever esta pequena obra-prima de D. P. Watt, uma descrição que caberia igualmente aos intentos e utopias instáveis, frágeis, decadentes e inúteis produzidas pela perpetuamente fascinante arte das vanguardas no século XX – uma névoa, um fluxo, um fantasma, cuja intensidade ofusca e impressiona o leitor por sua própria força motriz, infinita. As três primeiras fotos abaixo foram gentilmente fornecidas pelo editor, Dan Ghetu.  Sento-me diante de um livro: a sobrecapa é inteiramente negra, levemente brilhante. Mal consigo distinguir seu nome na lombada ou na parte frontal da sobrecapa, mas é possível ler A Distillate of Heresy, por Damian Murphy. Na única imagem da sobrecapa além do minúsculo logotipo da editora na lombada, uma pequena ilustração na qual vemos um anjo sentado sobre Saturno, a cor predominante, novamente, é o negro, agora conjugado a um dourado pálido, tonalidade necessária para a construção de volume na imagem. Retiro a sobrecapa para contemplar o livro em sua nudez: a capa, de tecido, é igualmente negra, sem qualquer adorno ou indicação de qualquer tipo que seja. Esse predomínio sombrio faz a cabeça do leitor dar voltas: estaria diante de um grimório, de um livro clandestino? De um material impresso que fosse, de alguma forma, proibido ou ao menos profano, demoníaco? O conteúdo estaria próximo desse negror que predomina na superfície externa do livro? Mas eis que estamos diante da guarda do livro: o negro finalmente cede espaço para tonalidades vermelhas em profusão, um efeito marmorizado abstrato, embora profundamente significativo. Trata-se da simulação do efeito marmorizado presente em livros antigos; ao mesmo tempo, aparentemente estamos diante de um efeito de sentido mais complexo apenas com a organização de design do volume: o negror da capa e da sobrecapa dá lugar aos tons de vermelho vivo da guarda, cores intensas e contraditórias, embora potencialmente complementares em sentido cerimonial. Pois este livro trata de cerimônias, em seus múltiplos aspectos. Mas ainda é cedo para tratar de seu conteúdo. Logo depois da guarda, encontramos uma imagem – a salamandra (de Sorina Vazelina), na forma de um “S”, esboço caligráfico que parece atingir, a despeito de sua simplicidade, a formalização de uma palavra, de um hieróglifo. Afinal, a própria letra “S” guarda o sentido sinuoso do animal fantástico (a salamandra) e parece se comunicar com os textos do livro, que tratam dos enganos, acasos e encontros fortuitos que geram efeitos cerimoniais, ritualísticos. Essa imagem caligráfica parece contrastar com a tipografia da página de título e a elaborada imagem subsequente, de uma mão que segura um coração em chamas, recorte em big close up de uma composição pictórica bem maior e mais complexa: trata-se da pintura Saint Augustine (1645-1650) do barroco Philippe de Champaigne, reproduzida aqui. Na imagem de Champaigne, o santo está em seu estúdio, desfrutando aparentemente de um momento de iluminação após intenso trabalho intelectual. Os olhos extáticos do santo convergem para a veritas brilhante como um pequeno Sol no canto da tela enquanto suas mãos seguram a pena e o coração que está em chamas pela inspiração divina. Ao destacar apenas a mão que segura o coração em chamas, o trabalho gráfico do livro desloca a imagem do santo intelectual de seu centro consolador e usual; não há mais veritas que a tudo ilumina, nem mesmo a localização espacial e o contexto geral da imagem, mas apenas o órgão sangrento em chamas, algo tanto espiritual quanto carnal, mesmo cruel, mas sem dúvida iniciatico. Como nas narrativas, essas imagens breves situadas nos paratextos do livro parecem indicar que os caminhos convencionais escondem muitos atalhos e rotas desconhecidas, que por outro lado estão longe de ser a salvação/iluminação daquele que as descobre. Há breves textos, epígrafes anônimas (seriam do próprio autor?) que preparam o leitor para os contos propriamente ditos. Em uma dessas epígrafes, lemos que o livro se destina “Aos heréticos, aos poucos, aos marginais, àqueles que voltam o rosto para a lua mais vezes que para o Sol.” Não existem imagens no restante do livro, mas elas seriam desnecessárias: a forma do volume estabeleceu uma introdução orgânica entre texto, imagens e concepção estética. Como escreveu, em outro contexto, a pesquisadora Évanghélia Stead: "Imagens e estampas, dobraduras, capas e encadernações, ornamentos, grafismo e tipografia, até mesmo a tinta e as letras, os insetos que caminham através de um deserto de papel e que foram dotados de um sentido intelectual, poético e sensual.” Damian Murphy, nesse sentido, é um narrador único ao manipular elementos inusitados no deserto branco do papel, transformando-o em uma floresta densa de signos: suas histórias possuem um sentido ritualístico, de jogo em que objetos (cotidianos ou não) e o acaso desempenham funções essenciais. Seus protagonistas são personagens únicos, cuja vida segue um sentido próprio em contraste ao aspecto mais mundano da existência, buscando saídas ritualísticos em cada pequena chance de fuga. E as edições, lançadas pelas editoras Zagava e Ex Occident Press, completam o sentido complexo dessas narrativas que se deslocam pela fluidez da realidade dos objetos cotidianos, eletrificados por significados simbólicos e míticos. Assim, o primeiro conto do livro, "A Book of Alabaster", trata de um recluso que coleciona, em sua torre, objetos únicos como um velho jogo de videogame cujo nome é o título da narrativa. Na primeira sentença do texto, temos uma síntese da visão estética e narrativa de Murphy: "Stefan vivia sozinho em sua torre de observação". Há algo de atemporal nessa expressão, cujo centro é torre, um tipo de construção militar que em geral alude à tempos primevos, Idade Média. Essa desorientação inicial do leitor é corrigida com o restante do texto, mas nunca de forma a percebemos um espaço bem definido e claro. Trata-se de uma narrativa que se desenvolve em um plano abstrato, em que os marcos físicos facilmente se perdem e se confundem com a percepção psíquica e mítica do espaço, de sua circularidade, infinidade e desdobramento ritualístico. As narrativas subsequentes desenvolvem em direções diversas essa proposta de um universo abstrato, difícil de definir ou perceber com a clareza necessária de um realismo mimético, culminando com "Permutations of the Citadel", um conto em que a realidade ficcional parece se transmutar continuamente ao redor dos personagens. Seus jogos e buscas com a realidade abrem possibilidades novas não apenas para o rito de iniciação, mas também para o sacrifício, com a visão ao mesmo tempo tenebrosa e desejável de territórios infindáveis que se desdobram por debaixo de nossas cidades, locais em que a evocação de potenciais infernais parece relativamente fácil. A cidade é um tema caro a Murphy: uma entidade crepuscular e tentacular, cuja aparência diurna e cotidiana é apenas uma de suas muitas manifestações labirínticas. As produções posteriores de Murphy – na verdade a novela "The Salamander Angel", publicada na coletânea Infra Noir, precedeu os contos de A Distillate of Heresy em alguns meses – como as novelas The Imperishable Sacraments e "The Hour of Minotaur" (antepenúltima narrativa da coletânea The Gift of Kos'mos Cometh!) desbravam caminhos novos dentro das infinitas possibilidades de combinação ritualística e lúdica em termos de narrativa. Um desses caminhos – muito bem desenvolvido na novela mais recente de Murphy, The Exaltation of Minotaur – é justamente o diálogo filosófico que se desdobra em intrincadas combinações narrativas estruturadas em torno de elementos simbólicos que permitem aos capítulos da primeira narrativa, "An Incident in the House of Destiny" ganharem títulos que aludem a formas arquetípicas: o burocrata, o anarquista, a visão, catástrofe. Mesmo a divisão de gêneros parece recuar nas narrativas de The Exaltation of Minotaur, formas complexas entre o conto e a novela que se entrelaçam em detalhes obsessivos, aspectos cíclicos que cobrem o ritual e o dotam de sentido. Murphy, nesse sentido, realiza múltiplas evocações a cada narrativa; talvez alguns dos nomes evocados possam ser reconhecidos pelo leitor: Alain Robbe-Grillet e J. K. Huysmans. Mas essa é apenas a superfície: as nuances e consequências das evocações narrativas de Murphy situam-se em uma região opaca, indefinível e perigosa que costumamos denominar imaginário, e que nem sempre é facilmente acessível. Algumas das fotos abaixo (as três últimas, respectivamente dos livros The Imperishable Sacraments e The Exaltation of Minotaur) foram gentilmente cedidas por Dan Ghetu. Imaginemos que o universo da Cultura e da Arte pudesse ser organizado e estruturado como se fosse um imenso museu, tendo em vista aspectos estritamente cronológicos e canônicos. Teríamos um museu gigantesco, semelhante talvez ao British Museum ou ao Louvre, com uma seção central na qual encontraríamos os grandes representantes da cultura universal cuidadosamente catalogados para o deleite dos visitantes. Nos setores secundários, menores, teríamos autores e tradições menos “relevantes” ou ignoradas. Em um desses setores secundários, importantes em grandes museus para preservar o aspecto pitoresco e excitante da Cultura – além de permitir ao visitante a chance da descoberta e do inusitado, transformando o museu em uma espécie de sucedâneo de uma selva a ser explorada –, provavelmente descobriríamos a literatura romena, em outro a literatura brasileira e em um terceiro, talvez, a literatura guatemalteca. De fato, não há nada de excessivo ou equivocado em projetar uma concepção estética nesses moldes. Contudo, é possível inverter a perspectiva, um mergulho naquilo que foi produzido na Margem, fora desse eixo central. Indo ainda mais longe, existe a possibilidade de reconstruir a produção perdida e esquecida, a obra que não chegou a se concretizar ou que se perdeu, por um motivo ou outro. A perspectiva da margem e a reconstrução daquilo que foi perdido/destruído é uma atividade que supera o gueto do exotismo e retira o universo da Arte de um fechamento brutal, proporcionado pelo estabelecimento de hierarquias canônicas. Essa arqueologia do não convencional não busca uma nova Tróia homérica, mas os vestígios extintos das sereias, de Circe, dos cíclopes. E um dos mais destacados desses arqueólogos do imaginário é, sem sombra de dúvida, Andrew Condous, cujo Golem of Bucharest acaba de ser lançado pela L’Homme Recent/Ex Occidente Press.
O “golem de Bucareste” do título é Horia Bonciu (1893-1950), novelista, poeta, jornalista e tradutor romeno de ascendência judaica. Tratava-se de uma figura enigmática em um rico momento cultural da Romênia, na qual abundavam figuras enigmáticas no universo artístico. É bem verdade que esse período – as quatro primeiras décadas do século XX –, apesar ou por causa da riqueza cultural mencionada, também foi politicamente turbulento, só encontrando a estabilidade proporcionada pela tirania fascista ou comunista. As tiranias desconfiam daquilo que não pode ser facilmente fichado e catalogado, o que resultou na marginalização de Bonciu ou, como bem definiu Condous: "Bonciu pode ser situado entre os rebeldes da vanguarda literária romena, um rebelde que se coloca contra a forma e o conteúdo. Outro fora-da-lei.” Assim, nada mais adequado que buscar os vestígios daquilo que esse fora-da-lei chegou talvez a planejar, estruturar, escrever e mesmo editar, mas que se perdeu no nebuloso e instável universo em que viveu. Para definir esse material obscuro, revelado através de cartas, anúncios em revistas, comentários, memórias, Condous utiliza a expressão grega Cryptadia, aquilo que deve permanecer obscuro, escondido. Se Cryptadia indica tudo o que já não pode mais sair das sombras, isso não quer dizer que a sugestão oferecida por esse material não possa contribuir se não para um completa recuperação do que foi perdido (a anulação da condição de Cryptadia), ao menos, para a reconstrução em novas bases. A arqueologia também é um trabalho criativo e poético, e isso compreendemos durante a leitura de Golem of Bucharest, a reconstrução de quatro livros perdidos de Bonciu. Cada um desses livros – “Parada Elefantilor”, “Concert la contrabas”, “Sarpele cu ochelari” e “O carte incomoda”, o último possui um título que curiosamente se assemelha à grande obra em prosa do autor português Fernando Pessoa, O livro do desassossego, publicado apenas em 1982 – permite a Condous uma possibilidade de extrapolação ficcional dos limites documentais por ele estabelecidos, bastante claros e bem estruturados. Essa extrapolação se situa entre aquilo que Bonciu poderia ter produzido e aquilo que Condous, de fato, produz – o arqueólogo abandona seu processo de síntese científica e encarna o médium espírita ou antes o xamã, que ao mesmo tempo evoca a obra perdida e a retrabalha em novos termos. As narrativas que surgem desse ponto intermediário entre arqueologia e xamanismo são, por sua vez, espantosas incursões na prosa absurdista, poesia expressionista, ficção fantástica e elocubrações existencialistas. O texto de Condous trafega entre os inúmeros arquétipos e mitos literários, facilitando a localização das ideias de Bonciu em um quadro historicamente mais amplo. Em “Parada Elefantilor” (A parada dos elefantes), temos esse estranho desfile de elefantes, animais fantásticos que transitam entre o bestiário medieval e a antecipação da peça Rhinocéros (1955) de outro romeno, Eugène Ionesco. Já em “Concert la contrabas” (Concerto de contrabaixo), temos construções poéticas seguindo a proposta de diálogo desse livro perdido entre poesia e a música dos quatro compositores prediletos de Bonciu (Gustav Mahler, Alexander Glazunov, Igor Stravinsky and Arnold Schoenberg). A musicalidade expressionista dos compositores e da poesia de Bonciu recriada por Condous ganham o primeiro plano. Logo, saltamos para o terceiro e mais longo capítulo, “Sarpele cu ochelari” (A serpente) que se destaca como uma pequena pérola da ficção fantástica, um diálogo com o Golem de Gustav Meyrink mas ultrapassa mesmo essa referência ao construir um monstro extremamente original e complexo. O último capítulo retoma “O carte incomoda” (O livro do desconforto) que, como o título indica, deveria causar, de fato, desconforto no leitor. Para obter tal efeito, Condous opta pelo aforismo que expressa desespero cósmico: "Experimentei a breve e veloz escuridão que rolava pela minha língua, gosto nauseante de vazio, de ecos perdidos, os fósseis de ecos, tragar o brilho de espelhos enegrecidos, o inverso de espelhos, o seco e insosso orvalho dos abismos, eflúvio de deuses mortos.” Se a tarefa de Golem of Bucharest pode parecer à primeira vista convencional, sua execução é única em cada uma de suas instâncias. Aquilo que surge após a leitura do livro de Condous não é apenas o retrato de um autor esquecido, historicamente injustiçado, mas o painel de uma época em que as esferas da criação e da destruição giravam com igual velocidade e intensidade. O trabalho de design do livro, por sua vez, é primoroso em cada detalhe, como usual da L’Homme Recent ou de qualquer outra aventura editorial da Ex Occidente Press. Cada um desses detalhes, por sua vez, carrega significados que se cruzam com aqueles suscitados pelo conteúdo do livro. Da sobrecapa, que apresenta apenas uma imagem cubista e as iniciais do autor até a capa negra que possui apenas uma ilustração. Do formato do livro às imagens internas cuidadosamente escolhidas. Enfim, trata-se de uma pequena jóia editorial, um livro de horas para colecionadores, connoisseurs e demais apreciadores do Livro como objeto. Nada mais adequado para Andrew Condous e seu The Golem of Bucharest, estranha e única mistura de ensaio e ficção, de recuperação e reconstrução, de resgate histórico e extrapolação narrativa. Resenha produzida graças ao apoio da Fundação Biblioteca Nacional, através de seu programa de pesquisa PNAP-R. No filme Andrei Rublev (1966) de Andrei Tarkovsky há uma cena curiosa, bizarra embora válida e factível do ponto de vista da verossimilhança de uma obra que se pretendia uma reconstituição histórica do invisível, ou seja, da vida de Andrei Rublev, o enigmático artista russo que viveu no século XIV-XV, consagrado como o mais importante e reconhecido pintor de ícones da Rússia. Quando um dos personagens do filme, Kirill – outro pintor de ícones, cuja base é extremamente erudita e livresca – volta ao seu mosteiro, após anos de vida errante pelo mundo (contados no episódio 6, “Caridade”), percebe que um grupo de cavaleiros em movimento era projetado em posição invertida na parede oposta à janela fechada por pesados postigos. Havia, apesar das barreiras na janela do quarto escuro, espaço para a entrada de um fio de luz, responsável pela maravilhosa e breve projeção. Kirill, medíocre pintor de ícones, descobriu intuitivamente o segredo que atormentou a Arte desde a Grécia antiga em sua camera obscura improvisada: a descoberta de uma metodologia para a captura do movimento da vida, plasmado em imagens móveis. Mas isso não é o suficiente para que Kirill escape da própria mediocridade – ainda que inventivo, jamais alcançaria Andrei Rublev, um pintor que não necessitava de aparato técnico, referências estreitas da tradição ou epifanias fabricadas. Aquilo que Andrei fazia era pintar uma visão – da realidade, do universo, da imaginação – que apenas ele possuía, algo inacessível à técnica por mais refinada que seja. Mas isso não quer dizer que a Humanidade não busque em aparatos e utopias tecnológicas reproduzir ou se aproximar das visões articuladas por Andrei Rublev (ou por Michelangelo, William Blake, Francisco de Goya, Vincent Van Gogh, Francis Bacon): o cinema talvez seja o resultado mais estupendo desse esforço milenar que é tanto a tentativa de captura do movimento da vida quanto uma forma de reproduzir visões as quais temos acesso apenas na contemplação de grandes pinturas ou em raríssimas epifanias.
É curioso que a descoberta intuitiva feita no filme de Tarkovsky, embora inteiramente fictícia, não deixa de ser factível. A história e as origens da camera obscura são amplas, míticas e erráticas, aparecendo na China antiga e nas pesquisas de Aristoteles, nos tratados de engenharia árabe medieval a nos experimentos realizados por Artênio de Trales, o matemático que projetou Hagia Sophia nos tempos em que Istambul ainda se chamava Constantinopla. No horizonte ancestral da história, que costumamos denominar “Antiguidade” e "Idade Média” – nomes gerais e de finalidade didática – o conhecimento se projetava de forma muito mais complicada que na contemporaneidade, na qual há processos unificadores, bancos de dados, meios de comunicação instantânea e registros de patentes. Nesse passado de obscuros detalhes, imensas possibilidades e paradoxal desejo de acessar aquilo que poderíamos denominar imagem absoluta – um paradoxo que congregava a reprodução perfeita à visão imaginativa de plena beleza – é o que alimenta o extraordinário romance de Brian Howell, The Stream & The Torrent (cujo subtítulo é The Curious Case of Jan Torrentius and the Followers of Rosy Cross: Vol. 1), lançado pela Zagava/Ex Occidente Press em 2014, dentro da coleção Les Éditions de L'Oubli. É necessário destacar que Brian Howell não é nenhum estreante: já havia trabalhado o intrincado e fascinante universo cultural do século XVII em seu primeiro romance focado em Vermeer, The Dance of Geometry (2002). Já a coletânea de contos sobre o Japão contemporâneo The Sound of White Ants (2004) recupera tanto a tradição do Japão pelo olhar estrangeiro de um Lafcadio Hearn quanto os trabalhos de Yukio Mishima. Em The Stream & The Torrent, Howell regressa ao mundo de artistas, cientistas, inventores, nobres, conspiradores e charlatões do século XVII, mas o foco deixa de ser um pintor amplamente conhecido. Pois Johannes Torrentius (1589-1644) – que latinizou modificando ligeiramente seu nome de batismo, Johannes Symonsz van der Beeck, tendo em vista que “Beeck” significa “riacho” – foi considerado um mestre na Natureza Morta já em seu tempo, mas esse reconhecimento não evitou que boa parte das obras de Torrentius fossem queimadas devido às acusações de que o pintor fosse membro da Ordem Rosa-Cruz, nutrindo crenças ateístas e satanistas. A reputação de Torrentius o precedia: era visto como “sedutor de burgueses, enganador do povo, violador de mulheres, esbanjador do próprio dinheiro e do dinheiro alheio”. Declarava que as tintas de suas obras eram “outras”, que suas pinturas eram fruto de algum tipo de magia, “não sou eu o responsável pela pintura”, afirmava. Excêntrico e arrogante, acabou preso, torturado e condenado à fogueira. Foi salvo pelo rei da Inglaterra, Carlos I, que o tornou seu protegido em 1630. Por algum tempo, Torrentius viveu em paz na Inglaterra, às expensas de seu novo e poderoso patrão. Mas, em 1642, teve de abandonar seu confortável exílio em Londres, talvez devido à percepção que a recém iniciada Guerra Civil Inglesa levaria seu mecenas, fatalmente, à decapitação. Voltou para a Holanda e foi preso por mais algum tempo; ao ser liberado definitivamente, se dirigiu para a casa da mãe para morrer, alguns dizem que devido a uma implacável infecção por sífilis. A 7 de fevereiro de 1644, foi enterrado em Nieuwe Kerk (Igreja Nova), algo notável em se considerando que tratava-se de alguém visto como ateu, herético, blasfemo e adepto do diabo. Suas obras desapareceram sem deixar vestígios: uma parte delas, quando do primeiro encarceramento. Seria possível imaginar que algumas obras de Torrentius poderiam ter sobrevivido com o exílio inglês: de fato, o inventário de Carlos I menciona várias pinturas de Torrentius mas nenhuma delas foi encontrada posteriormente. Apenas uma de suas obras sobreviveu para ser descoberta em pleno século XX: Natureza morta emblemática com jarra, copo, cântaro e brida (1614), uma extraordinária e complexa alegoria da moderação. O jogo entre os reflexos de cada superfície – o metal da jarra, o vidro do copo, a madeira do cântaro – parece construir um feérico e sombrio universo fantástico de sombras e estranhas formas indistintas, misteriosas. Essa espantosa pintura, a única criação de Torrentius que chegou aos nossos dias, torna-se um dos motivos centrais do romance de Howell. The Stream & The Torrent é dividido em três capítulos: “Vandike and I”, “Ex Anglia Reversus” (expressão sonora e poeticamente sugestiva foi por algum algum tempo o título provisório do livro), “Cornelis Drubelsius Alcmariensis”. Cada capítulo apresenta um fragmento da misteriosa vida e obra de Johannes Torrentius a partir de testemunhas privilegiadas. No primeiro capítulo, o próprio Johannes Torrentius, em uma espécie de diário, descreve seu exílio na Inglaterra e as tentativas de refazer seus processos artificiais para captura de imagens, sangrentos, complicados, situados entre a magia e a técnica. Em “Ex Anglia Reversus”, a testemunha é Constantijn Huygens (pai do cientista Chistiaan Huygens, inventor do dispositivo precursor do cinema denominado lanterna mágica segundo as pesquisas do historiador Laurent Mannoni no estudo A grande arte da luz e da sombra), o árbitro de um estranho duelo de naturezas mortas entre Torrentius e os de Gheyn, pai e filho. Por fim, no último capítulo, temos o testemunho de Cornelis Drebbel de Alcmar, famoso por inventar o termostato de forno e pela construção do primeiro submarino funcional; Drebbel relata seus experimentos ao lado de Jan Torrentius, em Londres e em Praga, até o poderoso gancho narrativo final. Como é possível perceber, diversos personagens históricos se cruzam em contextos não apenas verossímeis mas factíveis, jogos políticos, intrigas palacianas, discussões estéticas e bizarros/inúteis e cruéis (dependendo do ponto de vista) inventos. Trata-se de uma complexa urdidura narrativa, centrada no testemunho fragmentário: as incertezas possíveis da narrativa em primeira pessoa se multiplicam pelas distorções e manipulações possíveis dos autores, bem como da percepção dos leitores, de cada fragmento. Elaborada construção poética do fragmento dúbio, do testemunho que aparentemente só pode ser tomado como verídico após um processo de cotejo sistemático, exatamente o que nos restou de uma personalidade tão fascinante quanto a de Johannes Torrentius. Mas, acima de tudo, o romance The Stream & The Torrent é uma brilhante alegoria do cinema, do sonho humano (factível pela técnica) de capturar a vida em toda sua minúcia, como que através de um processo tenebroso de magia negra. Nesse sentido, Brian Howell se aproxima de Adolfo Bioy-Casares em um romance como La invención de Morel, mas ultrapassa o autor argentino ao trabalhar não com a pura invenção fantasiosa de uma máquina que captura substâncias e que as reproduz eternamente através de um mecanismo de perpetuum mobile. Maravilhoso, sem dúvida, mas convencional. As “tintas outras” e a camera obscura de Johannes Torrentius são dotadas de uma concretude movediça assegurada por testemunhos, memórias vagas e registros dúbios; trata-se simultaneamente de uma invenção possível (mas irrecuperável), de uma fraude, de uma mistificação, de uma prestidigitação, de um prodígio. O livro, fisicamente, segue o padrão dos editores Dan Ghetu e Jonas Ploeger: trata-se de um objeto de arte de indiscutível beleza. A impressão é magnífica e em um papel pesado e de tipografia equilibrada, que nos faz lembrar uma versão atualizada dos livros que Torrentius e seus amigos manipulavam no século XVII. As imagens internas do livro – curiosamente, nenhuma delas de Torrentius – são belíssimas naturezas mortas do século XVII, que garantem ao livro um ar de mistério totalmente adequado. Só nos resta desejar que o segundo volume possa ser lançado em breve, para que retomemos a deliciosa, turbulenta e atroz aventura de Johannes Torrentius na busca pela imagem absoluta enquanto atravessa as intrincadas conspirações de uma Ordem Rosa-Cruz imaginária. NOTA: Algumas das referências históricas – especialmente sobre Johannes Torrentius – vieram de uma série de artigos (dividida em três partes) bastante esclarecedora de Maaike Dirkx cujo título é “The remarkable case of Johannes Torrentius”, disponível em https://arthistoriesroom.wordpress.com/?s=Torrentius&submit=Search. Também nos foi útil a excelente resenha de Des Lewis, disponível em seu site: https://nullimmortalis.wordpress.com/2014/10/24/the-stream-the-torrent/. Estruturas gigantescas, infinitas como o Oceano ou Cosmo, a História e o Mito permanecem equidistantes, independentes, embora próximos. A densidade e a complexidade dessas duas formas que pairam acima da cabeça de cada ser humano, vivo ou morto, no planeta Terra pode sugerir que seja tarefa vã tentar aproximá-las, que haja perigo eminente no choque de ambas. Mas o ritual e a ficção fazem esse exatamente isso: aproximam Mito e História, de modo que haja confluências, mesclas, colisões. As narrativas únicas de Avalon Brantley – seja a releitura da tragédia e da ironia aristofânica em Aornos, os contos de Descended Suns Resuscitate ou a homenagem a Pessoa na coletânea Dreams of Ourselves – ao mesmo tempo ritual e literatura, retomada historiográfica minuciosa e reconfiguração pessoal de mitologias, testemunham os efeitos únicos da infinita e arriscada arte combinatória do Mito e da História.
Sua magnífica peça – ou talvez narrativa – teatral, Aornos, possui certa ressonância em As rãs de Aristófanes, coisa que fica clara a partir da epígrafe do livro (uma citação do grande comediógrafo grego que serve como referência premonitória ao nome do protagonista, Alektor), o tema da descida submundo dos mortos e o coro de cigarras que pontua a trama como o coro de rãs que acompanha a descida de Dioniso e Caronte em As rãs. Fale a respeito desse seu trabalho refinado, de ourives, empregado na invocação da tragédia e da comédia produzidas na Antiguidade grega. Bem, creio que Aornos deve ser considerada minha primeira publicação de fato, embora não seja nem de longe minha primeira composição. Para mim, contudo, trata-se definitivamente de um dos trabalhos mais pessoalmente satisfatórios que realizei. O que me surpreende ao dizer isso é que eu escrevi essa peça em uma semana, quando a história que eu pretendia que estivesse em minha primeira publicação de fato – uma coletânea de contos para a Ex Occidente [Press] – foi colocada em outra antologia. Pretendia preencher essa lacuna, mas não havia nada que, em minha percepção, se encaixava naquela coletânea, de modo que me apressei com minha ideia para Aornos. As sementes dessa obra estavam em um estado vago, em um ponto obscuro da minha mente por anos, aliás; penso que por vezes algumas obras amadurecem em adegas subterrâneas da mente com mais frequência do que seus criadores conseguem perceber antes de gerar a forma definitiva delas. A visão de mundo subterrâneo da Grécia Antiga influenciou a literatura e a poesia ocidentais, bem como várias etapa da teologia cristã. Nada parecido pode ser encontrado, por exemplo, na Bíblia (Sheol e Gehenna não são o mesmo que o inferno) até que surge a loucura anômala do Apocalipse de João, quando já estávamos contando quase cem anos de era cristã e tal livro quase descartado como apócrifo. Assim, todas as visões tradicionais do inferno usadas para aterrorizar os pecadores e tantalizar os poetas provavelmente procedem, em grande parte, das tradições pagãs. Trata-se de uma enorme porção de nossa herança literária e me fascinou como um plano de criação possível por anos; mas eu desejava recuperar algumas de nossas raízes culturais, de modo que iniciei a leitura de diversas obras comparativas e fui sugada através de outros materiais tanto literários quanto acadêmicos para que eu pudesse trabalhar com os aspectos mais sombrios, difíceis e esquecidos do Hades. Aristófanes certamente é um autor fascinante para mim, em parte porque, a despeito dele ser um dos primeiros satiristas do mundo antigo cuja obra sobreviveu, manteve profunda reverência a certos aspectos sacros de sua própria cultura, como em relação aos mistérios eleusinos (motivo pelo qual muitos críticos modernos o criticam diretamente, claro). Mas, tendo em vista seu universo e contexto, percebo que esse fato é notável, um traço cativante do trabalho e das intenções de Aristófanes. Como estudante de história, reconheci exemplos de escritores inescrupulosos e extremamente imaginativos cujos trabalhos dificultaram uma abordagem mais confiável do passado; ainda assim, por outro lado, existem aqueles que estão em uma espécie de caminho contra-racional e que auxiliam em trazer seus leitores até a mentalidade mais acertada para o seu tempo pelos mesmos meios não conformistas, um contexto de cultura e sua própria dinâmica, poética, cuja capacidade de drenagem a história não alcança. Não apenas Aristófanes, mas também no caso de “historiadores” como Heródoto e Plutarco. Eu apreciei bastante a leitura de Tucídides (incluindo a história que ele escreveu sobre o seu homônimo, Alcebiades) mas as histórias dele não desempenharam nenhuma papel importante na construção daquilo que podemos chamar, essencialmente, como cheguei a descrever em outro lugar, uma “peça teatral encenada na mente”, talvez uma representação poética de uma estrutura teatral, semelhante (como você astutamente indicou em sua próxima pergunta) Purgatory de Yeats. Descobri, todavia, que a história de Heródoto poderia ser diretamente útil – por exemplo, a Ponte de Medea a qual Alektor descobre, estranhamente, em meio à névoa das águas no local em que estava vagando veio direto de Heródoto. O ponto, na verdade, é o fato de que enquanto Heródoto é um dos nossos primeiros “historiadores”, e Aristófanes um de nossos primeiros “comediantes” (ao menos no que tange à influência subsequente que teve; há outros autores, mais antigos em cada um desses campos), ambos me auxiliaram na conexão com uma mentalidade extinta tempos atrás. Eu não abjuro completamente a Era da Razão ou o Iluminismo nesse sentido, mas a poesia e a literatura fantástica podem demarcar uma fronteira além dos fantasmas da assim chamada “realidade” e da razão tornam-se mais opacos e incertos. O trabalho de historiadores como Tucídides ou [Edward] Gibbon ainda será útil para mim, mas onde predomina o processo passivo, intelectual de leitura para o qual esses trabalhos foram imaginados, quando estamos aquém do revolutear dinâmico e criativo da poesia e da loucura. Os momentos finais de Aornos – notadamente após a aparição da extraordinária figura da Stettix – torna-se clara a intuição que o leitor deve ter percebido desde o início da leitura: sua peça é praticamente não representável. Como em certas peças de Ionesco (em O rinoceronte) e William Butler Yeats (Purgatory), as cenas descritas em Aornos dialogam melhor com a imaginação pelos delicados e sutis jogos e imagens sugeridas pelas palavras do que com a cenografia construída no cinema ou no teatro. Como você alcançou tal síntese imaginativa e visionária? Haveria alguma obra que você encara como precursora, nesse sentido? Não pude mencionar na pergunta anterior, mas sim, a Imaginação de fato é o teatro definitivo, ou deveria ser. Nesta era de filmes abarrotados de CGI [Computer Generated Imagery], efeitos de som Surround, animação computadorizada, vídeo-games hiperrealistas, onde todos almejam a realidade virtual de terceiros permanente, o que penso ser o mais trágico se concentra naquela parte de nossa cultura que se tornou tão imaginativamente preguiçosa que suplica as pedras de crack oferecidos pela alimentação forçada das mídias – gratificação imediata de todos os sentidos – a partir do exterior! – que é poderosa, de fato, mas fará com que a imaginação, que trazemos desde tanto tempo antes do despontar da literatura, dos sonhos e das incertezas diante da vastidão do universo que nos cerca, atrofie. Assim, para responder sua pergunta, eu devo dizer que para mim, aquilo que antecipou as minhas formas de escrita imaginativa está diretamente relacionado com todas as leituras de natureza fantástica que cultivei na infância, quando minha ensurdecida imaginação desempenhava seu papel com espontaneidade, agilidade e brilhante vivacidade, de modo que me viciei nesse aspecto imaginativo da leitura e do devaneio, que alimentava constantemente. Como adulto, em meio ao mundo empírico, tal atividade ficou bem mais difícil, como costuma ocorrer com os exercícios físicos – é necessário manter os músculos tonificados e as articulações flexíveis. Nem tudo o que escrevemos chegam rapidamente a esses termos, mas alguns costumam se abrir se nos aproximamos com a mentalidade correta, como uma canção que começa a fazer sentido dentro de você. Para mim, a música oferece uma experiência bastante similar – trata-se de uma inexprimível magia no fato de que uma série de ruídos estruturados podem resultar na explosão para a vida de mundos inteiros atrás de nossos olhos fechados. Ou então simplesmente se deixar ficar em um local no qual o genius loci começa a falar com você, quando certos lugares especiais podem subitamente e inexplicavelmente começar a sussurrar histórias – imagens engendradas em sua mente que parecem surgidas das pedras e dos aromas e do céu. Essas coisas devem vir de dentro inicialmente, não da sala de edição de um cineasta ou dos códigos de um programador, mas da própria psiquê. Ou, se o oposto for verdadeiro, seria possível manter o útero da psiquê pronto para receber tais transitórios gametas de inspiração. Tanto Aornos quanto os contos de Descended Suns Resuscitate trabalham um inusitado cruzamento entre Mito, História, Cotidiano e Ficção. Nesse sentido, há uma preocupação minuciosa com detalhes, que logo se desdobram em sofisticadas tramas de linguagem (o argot local, termos específicos, etc.) que evocam o passado (mesmo em seu pequeno detalhe cotidiano) ao mesmo tempo em que auxiliam na construção de efeitos narrativos, da ironia, do mistério da trama. Qual seria a origem de sua percepção dessas linhas de encontro entre Mito e História? Como solucionar ou relacionar essa combinação aparentemente contraditória? Mas não vivemos nossas vidas em um universo que aparenta ser contraditório? Qual percepção pode afirmar não ser ao menos em parte uma falsa percepção, parte de nossas mitologias contemporâneas? Ainda não temos uma Teoria da Grande Unificação na física, e não é verdade que muito do que admitimos nas bases epistemológica e ontológica é subjetivo? O que me fascina é como outras culturas, sem todos os nossos tabus e inibições intelectuais (ou, nesta geração em especial, nossa miopia tecnologizada), como esses outros conseguem interpretar o mistério que é estar aqui, que é interagir como esse poderoso, cruel, incrível e misterioso universo. O que eu tento fazer (e talvez seja uma tarefa fútil deste ponto de vista (ainda que, do ponto de vista poético, não acredito nisso, embora intelectualmente sim)) é colocar a maneira de um personagem em um tempo-espaço diferente. Ao menos esse é um dos aspectos de meu trabalho no qual pretendo me concentrar. Outro tempo, lugar e cultura, através dos olhos que enxergam desde o interior de um sistema de crenças, a maneira como o povo se expressa, como vivem suas vidas, todos esses elementos desempenham um papel em como um fenômeno pode ser interpretado. As mesmas limitações se projetam sobre nós, como os filhos de nossos filhos poderão ver com mais facilidade, uma vez que nós mal conseguimos interpretar o mundo através nossas limitações e preconceitos, tanto pessoais quanto culturais. O leitor deve se sentir algo deslocado no passado, pois como disse L. P. Hartley, “Eles agem de maneira diferente aqui”. É um mundo ainda mais diferente. Assim, considero o passado um terreno altamente fértil para a ficção imaginativa. Da mesma forma, ao menos poeticamente, não percebo o tempo como estritamente linear como tendemos a perceber na vida cotidiana, mantendo nossos compromissos e rotina de sono. Algumas vezes, tento a mediação (e o amálgama) entre nossas realidades e as realidades de algum outro de forma que seja possível alguma incursão no passado mas que, também, mantenha as conexões e talvez desperte certas fagulhas no quadro de referência do leitor, uma espécie de efeito deja-vu literário. Por isso, a resposta de Alektor à repentina aparição da Stettix surge antes do retorno do barco é um fala parcialmente emprestada da resposta de Lúcifer ao encontrar a monstruosidade da Morte no submundo de Milton. Isto para mim é novamente o tempo poético, que se torna não-linear. As palavras de Milton podem sair da boca de um personagem ambientado na Grécia Antiga uma vez que elas chegaram na pena de Milton a partir de um local sem forma e sem tempo de onde a voz de um demônio pessoal (na forma de um sapo rastejante, talvez?) sussurrou-as no ouvido daquele autor. O escritor japonês Ueda Akinari, em Contos da chuva e da lua – adaptados para o cinema de maneira bastante inteligente e sensível por Kenji Mizoguchi no filme Ugetsu Monogatari (1953) –, trabalha constantemente com a decepção, a percepção enganadora que desenvolvemos a partir daquilo que percebemos como realidade (que inclui, em todo o caso, o sobrenatural). Muitos de seus protagonistas trabalham com essa percepção falsa do universo que os cerca. Qual seria sua trajetória até essa poética da decepção, bastante sofisticada em suas narrativas? O universo é circular, um cíclico e emaranhado imenso de logros sem fim. Acredito que meus caracteres, como nós, precisam reunir muitas peças de um quebra-cabeça conforme elas surgem no caminho, perdendo algumas, rearranjando outras, conforme cambaleamos para qualquer direção que tenhamos tomado. Não pretendo julgar todos aqueles que sejam mais enganados ou equivocados que eu (ou, eu poderia arriscar, nós?), ao menos em termos. Cognição, sentidos, percepção – são apenas meios aproximativos e falíveis, afinal. Mas todos nós nos excedemos e, a despeito dos horrores, algumas vezes alcançamos vislumbres de beleza nesse arranjo. Então, quando os horrores são belos… Um dos contos de Descended Suns Resuscitate que mais me agradou foi “The Last Sheaf”. Existe nessa trama uma curiosa e complex relação entre efeitos alegóricos (os camponeses que scything the crops, as noções conflitantes de sacrifício), prosaicos (a viagem turística dos dois estudantes) e mesmo caricaturais ou grotescos (as páginas do livro, empregadas para limpar uma diarréia causada pela abstinência de láudano). O desfecho me trouxe à mente o conto “El Sur” (“The South”), o último da coleção Ficciones (1956) de Jorge Luis Borges. Quais procedimentos você empregou na construção desse conto? Existe algum método usual ou cada narrativa possui sua própria gênese e construção? Penso que cada narrativa efetua um acúmulo de uma maneira própria. Algumas vezes, como no caso de “The Last Sheaf”, uma narrativa pode surgir diretamente de certos materiais que envolvem aquilo que estou lendo, algumas vezes enquanto meus olhos estão em uma determinada página, algumas vezes logo após o livro já estar fechado, luzes apagadas e olhos fechados… Outras histórias aparentemente surgem espontaneamente de uma contemplação da paisagem vista da janela, ao ouvir uma música, visitar um local desconhecido… Fragmentos de histórias surgem constantemente, em todos os lugares – nas ruínas de uma velha casa no meio de uma planície que provavelmente foi no passado distante a casa de sonhos de alguém; em velhas roupas ou fotos, ou em objetos em lojas de segunda mão. Escutar essas histórias à espreita é tanto algo de ativo/criativo quanto um processo passivo. É necessário trabalho para construir a coesão decisiva para elementos que são apenas fragmentos e ideias vagas, mas nesse processo as ideias mais poderosas muitas vezes amadurecem e se desenvolvem quase que por si mesmas. Suas narrativas – é o caso por exemplo de "The Way of Flames” e "Kali-Yuga: This Dark and Present Age” em Descended Suns Resuscitate – abordam pequenos e grandes apocalipses, instantâneos de decadência e de esgotamento, sacrifícios voluntários e compulsórios. Nesse sentido, talvez seja possível afirmar que sua visão se aproxime daquela de James Joyce em Ulysses, de que a História “is a nightmare from which I am trying to awake”. A questão da decadência, em suas narrativas, seria alimentada por reflexões filosóficas? Ou sua preocupação situa-se de modo mais significativo no campo estético? Ambas, provavelmente na mesma medida, dependendo do contexto. Sempre fui fascinada pelo terrível caráter cíclico da existência, da história, da natureza humana. Aquilo que consideramos usual em países desenvolvidos é bastante frágil e não se configura como norma na maioria dos lugares e temporalidades. As preocupações da literatura decadente me parecem um consistente à propos, e espero que continuem a ser reconhecidas de modo intermitente, conforme o pêndulo da história persiste em seu movimento oscilante e caprichoso… A música ocupa, de maneira mais evidente, um espaço primordial na própria construção narrativa em Aornos e também no conto “Hognissaga” (embora o mesmo possa ser dito de todas as suas narrativas). Qual sua relação com a música no que tange à construção de suas tramas? Existe algum compositor ou estilo que lhe seja mais sugestivo, nesse sentido? Novamente, tudo depende do contexto (uma vez que cada história se desenvolve de forma própria, separada) mas há momentos em que a música é o cofator primário no processo catalítico no qual a história procede seu desenvolvimento. Em outros momentos, a música se encarrega de injetar suas próprias influências e ideias de maneiras que eu não conseguiria imaginar ou prever. O ecletismo domina meus gostos e aprecio uma ampla variedade de estilos musicais, e reconheço que algumas vezes certas canções e estilos que considero repugnantes podem de uma forma irônica me fornecer auxílio no que tange à inspiração ou intuição. Tendo em vista que você já teve uma narrativa em formato dramático e contos publicados, seria possível adiantar algum de seus projetos futuros? Está trabalhando em uma narrativa mais extensa ou mesmo, com toda a poderosa carga visionária de suas histórias, alguma criação visual e/ou audiovisual? Trabalhei em diversas coisas que ainda não foram publicadas, algumas poderão não ser lançadas nunca por razões pessoais (nem tudo o que escrevo é direcionado para publicação; algumas vezes é apenas algo que devo fazer) e outras ainda preciso finalizar. Tendo a ser relapso com o prazo de envio de meus trabalhos – trata-se da parte que considero menos agradável de todo o processo. Escrevi um romance extenso, uma espécie de resposta em forma de tríptico ao House on the Borderland e The Night Land de William Hope Hodgson. Também trabalho com ideias e esboços para diversos projetos, embora no momento esteja focada em uma novela breve, uma peça estranha e de grande amplitude, ambientada em diferentes momentos e regiões da Rússia, embora o centro predominante seja os Grandes Expurgos realizados por Stalin no final dos anos 1930. Quando eu finalmente terminar esse trabalho (não tenho ideia de que quando exatamente isso ocorrerá), há muitas outras áreas as quais desejo me dedicar, resultando provavelmente em coletâneas de contos – uma envolvendo os povos celtas das Ilhas Britânicas (um assunto e universo no qual já me dediquei por algum tempo durante a composição da homenagem a Hodgson) e outra ambientada na Nova Inglaterra nos tempos coloniais. Se existe algo que faz da narrativa algo próximo de um sortilégio, de um gesto que pertence menos aos domínios humanos e mais a uma esfera sobrenatural, metafísica, é o mistério. E as narrativas de Jonathan Wood (como na participação que fez no volume em homenagem a Fernando Pessoa, Dreams of Ourselves, lançado pela Ex Occidente/Zagava Press) transbordam de mistério, um mistério fundamental e transcendente que transtorna a própria realidade, não apenas a percepção dela. Na entrevista a seguir, nos propomos não a decifração do mistério, atividade vã e destrutiva, mas em contextualizar a mente criadora de Wood. Entre as obras já lançadas de Jonathan Wood (um autor do qual temos limitadas informações biográficas), podemos enumerar: os contos “White Souls against a Dark Background” (publicado na coletânea Cinnabar’s Gnosis – A Homage to Gustav Meyrink, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2009), “Beloved Chaos that Comes by Night” (publicado na coletânea The Master in Café Morphine – A Homage to Mikhail Bulgakov, editada por Dan Ghetu, Bucharest: Ex Occidente Press, 2011), “Pray to the God of Flux” (conto publicado na coletânea Transactions of the Flesh – A Homage to Joris-Karl Huysmans (editada por Dan Watt e Peter Holman, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013), “Vale of Gold” (na coletânea Sorcery and Sanctity: A Homage to Arthur Machen, Hieroglyphic Press, 2013), além da novela The New Fate, Bucharest: Ex Occidente Press, 2013.
Um aspecto de sua ficção que salta aos olhos e que sempre ressurge, em novos e complexos formatos, é o logro, o engano, a de decepção. Em The New Fate, por exemplo, há o logro do protagonista, que precipita o espantoso desfecho. Não se trata de um truque literário mais ou menos ingênuo, é bom frisar: o logro (deliberado ou voluntário), em suas tramas, se aproxima da Hamartia, a falha trágica, tão essencial na tragédia para a obtenção do terapêutico efeito de catarse. Como você chegou a essa noção de Logro? Haveria, nesse caso, alguma influência? O logro domina meu silencioso pensamento literário pois estou, continuamente, refletindo a respeito das qualidades da verdade e daquelas que definem a realidade; como ao redor de cada esquina a harmatia surge caminhando ou é vista nos reflexos das poças de água. O ato de escrever, os processos do pensamento que estão por trás dele e o jogo de personagens, tudo isso respira o oxigênio do logro e as percepções que acompanham o ato de escrever surgem de um complexo espectro de ilusões e enganos. Por exemplo, é possível aplicar o conceito sintético de logro a amplo espectro de pensamento e, para mim, isso é central, uma ponto de partida natural ao tentar discutir ou explorar questões morais, temporais ou espirituais, ou até mesmo para criar personagens do nada. A evolução e o jogo entre personagens surge da interação complexa de ações e significados ou o contrário de tudo isso e o logro pode ser observado naquilo que definimos sem muito rigor de “vida real”, observando de uma distância nada segura as nuances de conversão e linguagem e expressão. A identidade sutil de um personagem é resultado do que talvez seja um reconhecimento despercebido de algo que não é “direto” mas que possui um número singular de cantos e curvas. Não construo ou observo o logro ou o engano como resultado de uma observação deliberada, mas algo que está bem além de ser uma marca dentro do personagem e da narrativa; uma tendência natural como o clima, se preferir. É a representação normal daquilo que gostaríamos de pensar e de experimentar. Quando alguém estabelece uma conversação com você, isso acontece contra um pano de fundo de verdade ou com um segundo plano de nuance e significado e comportamento simbólico que leva a um espelho secreto, no qual você consegue ver apenas a parte de trás de sua cabeça? Quando olho para a tela de Rene Magritte, La Reproduction Interdite [1937], eu acredito que tenho tudo o que preciso saber… E isso, claro, é uma mentira. Existe algo de paradoxal em suas tramas: de um lado, temos complexas construções metafóricas amparadas por noções e princípios filosóficos quase abstratos; de outro, uma forte tendência de recuperação de contextos históricos. Assim, Por exemplo o universo do nazismo em The New Fate é ao mesmo tempo uma evocação e uma construção imagética sólida, o mesmo valendo para o universo que se configurou após a Primeira Guerra Mundial em "White Souls Against Dark Background". Haveria alguma metodologia para esse paradoxo? Você poderia descrever algo de seu processo de criação? Não utilizo o contexto histórico para necessariamente “escorar” uma narrativa em um quadro temporal ou período reconhecível, mas como uma tentativa de esboçar o contexto e a cor, algum elemento particular que pode ser algo oblíquo ou evasivo ou ilusório, quase como os pensamentos ou arrebatamentos de uma conversão em passantes que possua alguma qualidade real para eles; um menear de cabeça ou uma expressão furtiva que possua uma história própria passível de desenvolvimento em seu sentido próprio de periodização dentro do reconhecível. O contexto histórico central de White Souls se concentra na perda e na angústia com a Grande Guerra e examina os mecanismos empregados para mitigar o imenso talho que seccionou a mente, o corpo e o espírito de toda uma geração. Há a ambiguidade das vozes distantes no campo de batalha e os impulsos febris de Grovelock, além da desprezível ressonância do padre Bankman e da sala da sessão espírita mas, mesmo assim, o que se torna importante na minha concepção seria o exame dos personagens que estão “fora”, se você preferir dessa forma, do amplo conceito histórico reconhecível, no qual a linguagem pode vir repousar trazendo consigo o sabor de uma época. Meu desejo era me concentrar nesse conflito interno do pós-guerra em Londres. Em The New Fate, deseja me distanciar do contexto histórico significante – aquele que todos podemos identificar – de modo que a experiência descrita se torne mais rarefeita e altamente localizada, transformando o tema central e os personagens em [se preferir] manchas no Sol prontas para desaparecer até o momento da conclusão, quando o contexto histórico entra aos solavancos com aquilo que poderíamos chamar vingança adicional. É a chamada para despertar na amarga realidade histórica. O cultivo do contexto diz muito a respeito do exame efetuado nas sobras da memória, da tristeza mais profunda e do desespero da mesma forma que da ficção precisa, refletindo aquilo que é conhecido e compreendido. Desejo uma viagem descendente pelo orifício do deslocamento da sensibilidade que nos conduz ao desespero lógico, racionalizado, e ao distanciamento. Também desejo garantir que os personagens em White Souls e The New Fate estejam o mais desconfortáveis o possível, mas também levemente deslocados nos termos de um meio social conhecido. Provavelmente há algo da esquizofrenia no interior do princípio central que rege o contexto e a caracterização que será examinada em um trabalho futuro. Em Pray to the God of Flux, o contexto histórico talvez tenha se revelado através de costumes e maneirismos dos dois personagens centrais que foram pegos em meio ao conflito entre aderir à vida “normal” estultificada das classes médias comerciais e a ronda diária, a alternativa em experimentar os lúridos e proibidos frutos de Bruxelas, apenas para serem impelidos de volta à vida “normal”. Aqui, tinha em minha mente a evocação daquela grande massa de pessoas arrastadas dos subúrbios, transportadas por trens até o miasma espesso que era Londres no início do século XX, mas seria uma atitude pautada no logro da minha parte confirmar isso para você! Não desejo que esses personagens centrais sejam livres, antes que sejam cegos em relação aos próprios impulsos e às linhas borradas do período, do tempo e do local no qual estão inseridos. Há muita coerência nos grandes romances do início do século XX que seguem as trilhas do homem de comércio até as portas com um ponto de interrogação impresso! Huysmans trabalhou com isso primeiro, antes de todos no século que morreu a seguir! E talvez Poe. Percebo em suas narrativas certa instabilidade do tempo: o passado, o presente e mesmo o futuro de seus personagens, o tempo virtual e real, todos esses elementos temporais parecem colidir e confluir – processo levado às últimas consequências no conto “Pray to the God of Flux”. Essa forma de elaborar o tempo narrativo, de modo simultâneo ou como um fluxo, surgiu de alguma concepção filosófica específica? Ou teria sido fruto de alguma experiência empírica? Penso que sua observação é bastante perspicaz e gostaria de dizer que minha resposta surge do ato de ponderar entre a reação diante da consciência e da vida em geral, do ponto em que os limites e as distinções lógicas entre experiência e existência transbordam uns nos outros. Pray to the God of Flux é uma resoluta recuperação minha da vingança, na qual eu meramente ocupei o papel de “imaginar” a partir do meu presunçoso ponto de vista de um assim chamado “autor” a experiência dos “macacos sonâmbulos” que marchavam pela London Bridge na forma de um terrível pesadelo modernista, e que se tornou meu próprio destino uma vez que eu continuo a ganhar meu sustento diário do comércio, mas agora em novo endereço! A vida imita a arte de uma forma desprezível e merecida! Imagino que deva haver igualmente um elemento filosófico no ponto em que o Tempo se torna muito preciso e compacto e febril em minhas histórias, algo que se combina com as experiências dos protagonistas. Eu aprecio experimentar com a fluidez de ideias e tempo e experiência, como se houvesse um diálogo unificado em minha cabeça com tudo o que deverá acontecer. Penso que a mente está em “fluxo constante”, como você mencionou acima, e do centro da mente se configura uma espiral de pensamento e experiência completamente paradoxal em todos os seus detalhes. Em Pray to the God of Flux, eu desejava prospectar em profundidade esse conjunto paradoxal de impulsos descrito de modo tão rico por Huysmans com seu Des Esseintes, que percebia atentamente e fazia as vezes de servo do mundano e do excitante. Quem sabe tudo isso também não apareça em alguma ficção futura. Os personagens, assim, parecem estar sempre em trânsito, servindo ao Deus do Fluxo; a compulsão definitiva e uma variação da mola mestra retesada em The New Fate. Sou bastante interessado nessa noção de um trânsito interior contínuo, da jornada de ideias e noções e personagens para a Terra e além, para o interior de si mesmo. Em Beloved Chaos that comes by Night, as meditações interiores nos abismos do personagem principal – um receptáculo, se preferir, pronto para ser preenchido –, os pensamentos que pretendem se deslocar para além de seu contexto, para novos lugares, para seu destino final. Os personagens se tornam hospedeiros de algo profundo e em seu fluir transformam-se em abstrações. Existe em suas narrativas a elaborada construção imagética de objetos, ao mesmo tempo belos e simbolicamente relevantes – os cálices em “Pray to the God of Flux”, o passeio dos irmãos em The New Fate, o sonhador cartógrafo em “White Souls Against a Dark Background”. Tais imagens são construídas dentro do continuum da narrativa ou surgem à parte? Como você as visualiza e insere na trama? Não consigo separar a captura da construção de objetos pelo imaginário da continuidade oferecida pela escrita de modo geral. Os elementos visuais e simbólicos parecem despertar tão logo coloco a caneta no pape. Sou afligido por uma mente que recorda imagens e símbolos de modo que esses elementos são catalogados em um arquivo mental, para futura referência. Carrego um caderno de anotações comigo tanto nos dias bons quanto ruins, carrego fragmentos de papel para registrar todos os tipos de impressão que poderão alimentar posteriormente a construção de imagens. Minha tendência é meditar a partir de imagens visuais – indo e vindo, indo e vindo – em minha mente por um tempo que parece ser a eternidade e assim essas imagens, além de algumas novas, surgem em muitos de meus sonhos. Ao sonhar, parece que estou apto a tocar no passado com facilidade, de modo que experimento uma realidade altamente retrospectiva – o que constitui, talvez, uma noção com a qual posso trabalhar em minha ficção. Sinto que minha mente captura coisas “antiquadas” e sempre foi assim desde que eu era bem jovem, de modo que consigo recordar com precisão imagens com mais de quarenta anos de idade que talvez estivessem perdidas em minha mente de modo definitivo. Posso dar um exemplo – uma velha lareira de pedra em um castelo arruinado, situado na extremidade de uma famosa paisagem de dunas arenosas, visto quando eu era uma criança. O piso decaiu com os anos graças às intempéries do tempo e da história, mas a lareira ainda está de pé, a meio caminho da antiga fachada, na verdade não se trata mais de uma lareira mas de uma espécie de portal fabuloso que espera para ser atravessado. Da mesma forma, na esquina da Rua Sclater no East End de Londres, há um local similar. Percebo que é difícil distinguir entre escrita e o constante exame e utilidade do imaginário. Assim, penso que tenho um grande débito para com meu interesse precoce nos trabalhos de Edgar Allen Poe por isso! Mas precisamos ser cuidadosos, contudo, com o que concebemos a partir da realidade e da fantasia. Certa vez em Palermo, Sicília, nos anos 1980, eu caminhava diante da vitrine de uma loja em um beco abandonado que exibia um imenso vestuário ritual com o selo do Mega Therion de Aleister Crowley bordado no feitio de um brasão. Mas, ao analisar os detalhes daquela rua logo no dia seguinte, percebi apenas uma vitrine extremamente banal sem qualquer tipo de vestimenta ritualística. Experimentei essa segunda descoberta como uma perda e a imagem inicial ainda está em minha mente e foi usada em uma distante ficção de juventude. O uso da imagerie também é um portal apropriado para expandir ou estreitar os limites de uma história, de modo que pode automaticamente crescer em uma vida artificial de feitio próprio. Me interesso, igualmente, por aquilo que os personagens percebem como imagens importantes dentro do quadro da narrativa – talvez isso seja mais aparente em White Souls [espelhos, parélios, símbolos ocultos] e Pray to the God of Flux [visões que não são visões mas compulsões que ocorrem no interior da busca por satisfações iníquas de personagens que nelas se enredam como alguém atingido por uma droga]? E depois existem as imagens captadas da própria existência. As taças entram nesse caso e vou deixá-las por isso mesmo. A novela The New Fate é notável em mais de um ponto de vista: a abordagem do tema do duplo, o imaginativo retrato da Alemanha durante o nazismo, por exemplo. Em minha opinião, trata-se de uma narrativa poderosíssima, no mesmo patamar de narrativas no mesmo formato como Morte em Veneza de Thomas Mann ou The Day of the Locust de Nathanael West. Fale um pouco sobre o processo de construção desse magnífico livro. Estou prostrado diante de suas palavras e mesmo assim não sei por onde começar. A escrita de The New Fate deixou uma enorme sensação na boca do estômago e seu desfecho ainda me assombra, uma vez que ela foi escrita antes que eu tivesse consciência de tê-la escrito; como se alguma coisa se alojasse e ainda que eu percebesse que falhara na construção desse desfecho, notando isso instantaneamente, ele já estava no papel. Se podemos afirmar a existência de algo chamado “escrita automática”, então certas partes de minha novela caberiam em tal conceito. Pois não se tratou de evasivas ou de distanciamento diante das responsabilidades do escritor como parteiro universal, mas a compreensão de que existem elementos no processo criativo que são indefiníveis e alarmantes de forma singular. The New Fate caiu do céu como um Ícaro maligno após um período de significativa meditação silenciosa; eu estava em certo sentido concentrado na meditação daquilo que poderia ser descrito como o definitivo niilismo da “nadificação” e sobre quão vazio o “homem interior” poderia ser. Eu sabia que meu desejo era escrever sobre certos traços do Nacional Socialismo – quando Dan Ghetu [editor] me descreveu a noção principal por trás da série de livros The Last Thinkers [“os últimos pensadores”] – e ainda assim meu desafio era captar as sutis tendências ocultas que estavam em jogo criadas pela miríade de imagens históricas que eram extremamente familiares devido aos noticiários, mas de forma que minha representação cessasse de pertencer ao documental, que ao contrário desdobrasse uma narrativa a respeito de si mesma vinda de si mesma, testando os limites da história e do ser, alterando a certeza de reconhecer o nazismo em algo antecipatório mas sem nome. Desejo escavar algo que possuísse certa opacidade, algo bruto e indefinido, mas que possuísse ao mesmo tempo a distorcida dinâmica que conduz à compulsão nacionalista irrefreável e dessa forma, por esse método, o construto obtido se tornaria a mania acontecida e que era, de fato, cega. O que me ajudou na tarefa foi o fato de que essa palete em segundo plano parecia fertilizar por si mesma, naturalmente, as palavras. Sem retorno, diversas vezes, em minha mente às associações Studentenverbindung da Alemanha do século XIX como a “Terra” central da novela porque desejo descrever e trabalhar com esse tipo de atmosfera febril em que o pensamento filosófico e a discussão fossem irrestritos; mas essa ideia ou noção de fraternidade me conduziu apenas ao conceito localizado dos dois irmãos, Karl e Pieter, uma significação que eu pude articular apenas de forma indefinida, aqui e ali, de onde surgiu o pareamento de mentes e ideias que caminhavam do fertilidade e afirmação da vida para o vazio, ecoando contra o pano de fundo de muitos emblemas, de uma cacofonia, da confusão caótica. Depois, peguei essas ideias sobre os irmãos e na tentativa de escrever um “livro de histórias” mundial sobre a tradição Volkish e aprisionamento cotidiano e destino, acabei por construir algo que funciona como a meada central da compulsão. Sem dúvida, eu estava dominado pela tradição do conto de fadas e pela noção de que dentro de cada um de nós haveria certo número de personalidades que estariam sintonizadas com os noturnos e sombras da “outridade”, uma separação se preferir, que nos envia cada vez mais profundamente do reconhecimento sadio para as capelas profundas da irracionalidade e do encantamento. Eu desejava personagens que pudessem ser entendidos como possíveis de aparecer em uma estrada solitária, fora da página. E na impressionante permanência em minha memória dos contos de fada tradicionais que amo, isso se tornou realidade. O que eu desejo em certo sentido é ser cruel com e dentro da narrativa, comas figuras em sua paisagem de modo que não existisse conforto em suas expectativas, nenhum reconhecimento através dos meios de seu Doppelganger, apenas o mais elevado retesamento da espiral de iniquidade e o destino refletido do que foi inflingido a tantos. Senti poderosamente as diversas percepções e preceitos de certos tipos de filosofia da época, como todos esses elementos foram coletados e injetados na alma pelo protagonista[s] e também o conceito de compaixão e como, sob determinadas circunstâncias, ele pode ser esticado até os pontos extremos da experiência humana, como se de alguma forma fosse filtrado através do reflexo em um espelho fragmentado. The New Fate é algo bem ordinário, habitado e infectado pelas mentes cotidianas de pessoas ordinárias que alimentam a irrefreável corrente de desaparecimento que corre na secura em direção às cinzas. Tenho percepções muito claras a respeito do relacionamento entre arte e literatura e os temas – que poderiam ser determinados como uma forma de “abstração”, na qual o que é certo sangraria sem parar naquilo que é incerto, irreconhecível e que se torna mortal e retorcido quando antes foi tão ordinário. Observar as operações do Doppelganger na página se tornou a parte alarmante de trabalho noturno e ainda não a entendo por completo. Nós nunca podemos estar certos a respeito de quem também está presente em nossa natureza. Devo considerar que você e D. F. Lewis conseguiram captar com precisão a essência de The New Fate nos raios de Sol. Quanto isso, posso apenas agradecer imensamente ao tratamento editorial exemplar dado por Dan Ghetu… sei que isso é um fato. O componente imagético e visual de suas tramas possuiria alguma relação com o cinema, talvez como algumas das criações de Jean Cocteau? Pois as imagens sistematicamente construídas em suas tramas não parecem ter uma ressonância cinemática tão poderosa como outras narrativas que buscam se aproximar da linguagem cinematográfica. Haveria algum filme, diretor ou estilo cinematográfico no qual você reconheceria uma influência? Desde minha infância, sempre fui tão influenciado pelo cinema e pela linguagem do filme quanto pela literatura. Eu era assombrado, e ainda sou, pelo cinema alemão antigo e pelo expressionismo alemão – Lang, Wiene, Wegener/Galeen, etc. – e em particular pela maneira como narrativas simples se desdobram seguindo a habilidade da imaginação do espectador em permitir tal desdobramento de modo que elas se implantam em nossa mente e nunca mais nos deixam. Há perfeitos contos de fada populares para o lado mais aconchegante da minha mente. Filmes com legendas e intertítulos, nos quais a noção de narrativa vivenciada e capacidade da imaginação em contar históricas estavam fundidas no limite em que o espectador se tornava e permanecia obcecado porque ele ou ela caminhava pela história do filme da mesma maneira que um romance significativo se imprime em nossa mente filosófica. Não há escapatória. Penso, em particular, no trabalho de Ingmar Bergman – especialmente O Sétimo Selo, Persona, Silêncio, A hora do lobo, etc. – nos quais as lutas dos personagens são tão internas quanto universais em sua anatomia filosófica. Também penso em epifanias pessoais [talvez essa palavra tenha sido excessivamente utilizada] quando vi pela primeira vez Espelho do grande diretor russo Andrei Tarkovksy – a poesia visual das imagens e o sentido narrativo do passado e do presente chegam a ultrapassar as possibilidades de descrição, uma vez que foram capturados em um crisol com todos os elementos brutos da vida – luz e escuridão, natureza, juventude, velhice, tradição, história, dor e beleza e alegria espiritual para além de qualquer descrição. É a cascata bruta da vida e do pensamento que atinge o clímax com a avó retornando através de campos balouçantes. Nada poderia ser melhor. Eu poderia mencionar Alfred Hitchcock, o diálogo interior de Janet Leigh e Anthony Perkins em Psicose e o perfeito caminho de sonho de Du Maurier conduzindo Manderley em Rebeca; Derek Jarman e sua desconstrutiva obra-prima Jubilee; Luchino Visconti – o mestre dos grandes temas entrelaçados com decadência moral em Morte em Veneza e Os deuses malditos [um nazismo oblíquo e finamente sintonizado, muito superior às noções de [Liliana] Cavani em O porteiro da noite, que não conseguiram tirar minha frieza] – e o excepcional ofertório canônico de Roman Polanski, no qual a capacidade narrativa, vulnerabilidade pessoal e destino são fundidos de forma única. No cinema, existem camadas de existência simbólica que são capturadas como poeira nos raios da luz solar em uma única sequência de fotogramas, da mesma forma que uma frase dentro de um romance – o filme como um único fotograma, ou seja, como uma única imagem escrita ou passagem ou capítulo. Nos meus primeiros anos em Londres, lá pelos idos de 1978-81, estive obcecado com o Magick Lantern Cycle de Kenneth Anger – pois essas breves e peculiares obras-primas são os equivalentes visuais das fábulas, histórias curtas, parábolas, poemas e sonhos esquecidos ou fragmentos de sonhos induzidos pelo ópio que se perderam antes do clímax do REM. Assistir os filmes de Kenneth Anger permite a abertura de um sentido questionador da articula o estado de sonho em uma narrativa, na qual a lucidez comatosa é o passaporte para oportunidades infinitas da caneta no papel. Eu poderia dizer que se trata de uma influência chave. Imagine a força da imagem de um pé de elefante pisando em uma cobra, visto por apenas um segundo como se não existisse. Se foi… mas não de nossa cabeça… estará para sempre. Veja Lucifer’s Rising e veja por si mesmo. Tendo em vista o material que você já publicou, há de sua parte uma aparente preferência pela narrativa curta – o conto ou a novela. É uma escolha deliberada? Você pensa em publicar um romance no futuro? Tive o privilégio de ser agraciado com oportunidades significativas para desenvolver o conto até o formato da novela e devo isso a Mark Valentine e Dan Ghetu pelo encorajamento e fé em meu trabalho. Eu diria que tal trabalho não foi assim deliberado, como uma previsão, uma transição altamente instrutiva para o processo de formatação de ideias, noções e sombras de personagens a partir do éter; quase um “deixe acontecer”, se preferir. Eu acredito que a forma da novela é um mecanismo bastante preciso para o desdobramento e exame de noções e ideias. Trata-se de um formato desafiador, mas que traz mas que traz consigo vantagens em seus próprios limites, especialmente úteis quando o construto central dentro da novela está encubado, inculcando a si mesmo como em um automático e distanciado processo. Tais recursos se manifestaram em um recente material que enviei para Mark Beech [editor] da Egaeus Press e também, parcialmente, no trabalho que fiz para Dan Ghetu sobre Fernando Pessoa. Me senti, nesses casos, profundamente perturbado e profundamente excitado porque aparentemente significava que havia outras forças trabalhando, forças bastante cruas e profundamente independentes da idealizada personalidade de um escritor. Talvez eu desenvolva essa percepção posteriormente, talvez eu apenas termine com isso para o mundo ver os resultados. Eu adoro a pergunta: “existe um romance em você?” – meu pai me perguntou isso – e minha resposta seria “sim, provavelmente”. Tenho dois projetos em desenvolvimento atualmente – espero que os deuses permitam que eu posso fundi-los em um romance – que jogarão alguma luz nas Sombras de Londres [conheço uma pessoa que vai reconhecer essa ideia] juntamente com algo chamado O livro das bruxas de Londres – mas não espere bruxaria aqui, mas sim uma insidiosa e incerta filtragem de certo espectro de Londres que se acumula no fundo da ampulheta acompanhando minhas perambulações pela Alameda da Memória, torcendo para que aquilo que eu recupero faça algum sentido. Mergulharei nessa fusão a primeiro de janeiro de 2015, como uma defesa contra o tédio e os rituais de final de ano, de uma transição que é como a face de Jano e por que não? Muitos fragmentos foram escritos e agora devem ser arranjados. Contudo, não sou corajoso o suficiente diante da ideia de um romance. É uma perspectiva apavorante, a expansão do regime e da paisagem da novela em uma nova e cultivada terra. Há o conflito no romance – entre o equilíbrio e a confiança na narrativa, a constância e a credibilidade dos personagens e a nobreza e grandiosidade da situação; e se essa “grandeza” for confinada aos pensamentos íntimos de um velho misantropo, então é necessário apressar um estudo e mais tinteiros antes da chegada do destino. Não sou tolo o suficiente para pensar que algo assim seria fácil. O medo de um escritor é pior que qualquer bloqueio criativo. Entrevista conduzida com apoio do programa PNAP-R, da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Há alguns exemplos conhecidos de obras literárias que utilizam sistemas de divinação como um tipo de estrutura essencial em termos narrativos ou poéticos. Esse é o caso de O castelo dos destinos cruzados (1973) de Italo Calvino, elaborado a partir de interpretações possíveis das sequências de cartas que ilustram cada narrativa – algumas das quais surgiram, inicialmente, em uma edição da Franco Maria Ricci com esplêndidas reproduções de baralho pintado, ao século XV, por Bonifácio Bembo para os duques de Milão. Outro exemplo: O homem do castelo alto (1962) de Philip K. Dick, em que o clássico texto oracular chinês não apenas surge como dispositivo narrativo mas como recurso para solução de imbroglios narrativos empregado pelo próprio autor. Mais raros, contudo, são os casos em que uma obra narrativa ou poética torna-se ela própria um oráculo, absorvendo algo das propriedades sugestivas dos textos, imagens e simbologia da arte divinatória. Esse é o caso de Los San Signos do polígrafo argentino Xul Solar, espécie de tradução imagética/interpretativa do I Ching para o idioma inventado por Solar, o neocriollo, matizada por imagens retiradas de fontes como a Divina Comédia de Dante. Esse também é o caso de Dada Gnosis, trabalho do escritor e editor romeno Dan T. Ghetu, cuja ressonância oracular foi percebida por outro autor extraordinário, Damian Murphy, em uma resenha (outra interessante resenha/experimento, uma apreciação sem palavras, foi publicada por Des Lewis em seu site).
Do ponto de vista físico, Dada Gnosis lembra menos um livro e mais uma caixa de fósforos entulhada de escritos, sem ordem aparente – são, na verdade, seis folhas coloridas dobradas na forma de mini-livretos. Esse curioso formato remete, simultaneamente, a um estranho baralho de tarô e a uma provável metodologia para a difusão de textos clandestinos, cuidadosamente dobrados e ocultos em locais insuspeitos. Cada um dos livretos contêm poemas que fazem referência a poetas vitimados pelas terríveis tempestades históricas que acossaram a Romênia no século XX. Como o título do conjunto sugere, estamos diante de uma espécie de gnose contemporânea e iconoclasta, a possibilidade de descoberta pelo poder do acaso e da negatividade, que pulsam de cada um dos poemas de Ghetu. Esses vertiginosos e breves textos em prosa poética abordam o exílio, a solidão, a guerra, o isolamento, a perseguição. Os poetas de Ghetu se juntam aos judeus como minoria perseguida, uma compreensão direta do destino de um povo que quase nunca encontra um local em que possa repousar por muito tempo, antes de retomar seu exílio, sua fuga ou sua morte. Assim, os vaticínios evocados por esse curioso oráculo não são como os horóscopos projetados no mass media: são possibilidades que se projetam a partir das ruínas, tendência inescapável como bem demonstra a História, o pano de fundo de cada um dos hexagramas desse novo I Ching. De fato, há algo de irônico e enigmático em se conceber reflexos dos frenéticos e titânicos conflitos históricos em pequenos textos dobrados, enfiados dentro de uma pequena caixa. Esses dois atributos – a ironia e o enigma – fazem de Ghetu, um editor de imenso talento à frente da Ex Occidente Press, um legítimo herdeiro dos vanguardistas romenos que formaram o grupo surrealista de Bucareste, o “Infra-Noir”, que cultuavam o mistério, a clandestinidade, o mito renovado como uma estranha forma de revolução, necessária para subverter/destruir tanto a extrema direita quanto a esquerda autoritária, ambas unidas nos mesmos preconceitos, no mesmo ódio à liberdade, na mesma construção de uma mitologia postiça e ridícula. No poema dedicado a Mehmet Niyazi, uma das estrofes nos diz: “Os anjos vieram, afinal. A longa estrada do poeta está para começar.” A dor do exílio, da fuga, da perseguição, da morte, para o poeta, ganha a configuração de uma estrada aberta, de um road movie sem fim. A felicidade oracular em Dada Gnosis surge não da falsa esperança ou da irrealidade trivial cotidiana, mas da percepção poética de um mundo mergulhado em sangue, mas ainda aberto e possível. Em 1975, Jorge Luis Borges publicaria um conto que seria materialização do sonho de todo o bibliófilo: “El Libro de Arena”, o livro cujas páginas são infinitas (ou ao menos incontáveis) como os grãos de areia que existem em uma praia. O protagonista do conto adquire o fantástico volume de um vendedor de Bíblias escocês que surge em sua casa mas acaba prisioneiro do “livro monstruoso” e “diabólico”. Objeto impossível e fascinante – alimentou mesmo uma releitura apocalíptica de Rhys Hughes, em um conto de sua Nova história universal da infâmia – símbolo daquilo que desejamos e que alimenta nossos piores pesadelos, que apenas podemos abandonar em um local onde se perca definitivamente, assombrando-nos assim apenas como uma provável ilusão dos sentidos. É curioso que o volume monstruoso de Borges não é incomum: a capa demonstrava que o livro passara por muitas mãos, o idioma no qual fora escrito talvez fosse estranho, mas a tipografia era medíocre, as páginas estavam gastas, as ilustrações eram torpes e de feitio mediano.
De certa forma, Borges era sensível a um fenômeno curioso: muitos livros cotidianos, de forma limitada, reproduzem a sensação do livro de areia graças a curiosas disposições na Natureza. O tempo, por exemplo, pode desgastar um volume de tal forma que as páginas, antes vistosas, surgem quebradiças em nossos espantados dedos (que talvez não tocaram essas páginas por alguns anos). Já a memória produz o efeito de espanto diante de um livro que imaginamos conhecer (e que nos surpreende, o que indica que provavelmente não o conhecíamos) quando passagens que temos a certeza estarem em tal e qual página desaparecem, quando novas ilustrações ou sentidos surgem mesmo que de uma leitura breve, superficial. Por outro lado, certos formatos sempre buscaram emular, de forma evidentemente imperfeita, a infinitude: os almanaques e as coletâneas, que possibilitavam a (re)descoberta, o frisson inesperado na leitura do volume. Mas nenhuma dessas formas de aproximação ao “livro de areia”, objeto não natural mas possível (como tantos objetos não naturais) é como esse estranho artefato publicado pela Zagava/Ex Occidente Press: Infra-Noir, compêndio multifacetado e único, o mais próximo possível do livro de areia. O título, que poderíamos traduzir como “infranegro”, parece aludir aos manifestos e séries de opúsculos do grupo surrealista romeno, que congregou nos anos 1940 nomes como Gherasim Luca, Dolfi Trost, Paul Păun e outros. Essa relação com o rico e complexo veio do surrealismo romeno é acentuada pelo trecho do poema de Virgil Teodorescu (ilustrado por stilamancies de Dolfi Trost), Poem in Leoparda (1940), que ilustra a sobrecapa, escrito no idioma dos leopardos, ferocidade fonética inventada por Teodorescu como “idioma” de seu poema, moldada a partir – como destaca Andrew Condous – das experiências dadaístas de Tristan Tzara em torno dos chamados “poemas simultâneos” e do “letrismo” de Isidore Isou. O original do estranho poema de Teodorescu e Trost foi confiscado pelas autoridades romenas em 1959 e imaginava-se destruído. De fato estava, mas não inteiramente: quatro páginas foram secretamente guardadas pela esposa de Virgil, Helene – nessas páginas, podemos ler o trecho que está na capa de Infra-Noir: “Sobroe vinwid tidiv toe”. A linguagem estranhamente irreal e poderosamente sugestiva do poema aparece impresso em letras de tipografia impecável, negro sobre o negro da sobrecapa, um verso primoroso em uma língua desconhecida da humanidade, mas por ela percebida. Na lombada, a indicação evidente de negrura, obscuridade, clandestinidade, ameaça de esquecimento: “Infra-Noir”. Mergulhamos em um universo negro, inacreditavelmente significativo e complexo, mas apesar de tudo ainda estamos na sobrecapa que, a despeito de sua imponência, não é preparação suficiente para o impacto do conteúdo do volume: são seis livros completos, uma gama variada de poesia, prosa poética e ficção em diversos formatos e tipografia, cada um deles acabamento luxuoso que inclui uma ampla gama de ilustrações e fotografia. A abertura de Infra-Noir é “Smoke”, livro de poemas de Mark Valentine. Um amplo espectro da composição poética da vanguarda do início do século XX – notadamente o surrealismo, o hermetismo, o dadaísmo, o expressionismo – informa os poemas de “Smoke” que, por outro lado, possuem uma dicção muito própria. Os focos mais evidentes da poesia de Valentine são o exílio e a dispersão, fatos singulares cuja ocorrência se dá tanto na dimensão do cotidiano e quanto do exótico, a projeção constante de outros universos no universo mesmo que percebemos usualmente. Imagens de fontes, objetos de mármore, templos obscuros, espelhos, coisas perdidas ou esquecidas – esse á a imagerie desenvolvida por Valentine em poemas soberbos que em alguns casos transformam-se em pequenas obras-primas da fusão entre poesia e ficção fantástica como em “hark to the rooks” e “a note about hats”, poemas sobre a perda da identidade pela pressão da Natureza e dos sistemas políticos. O segundo livro é “Inflammable Materials”, escrito pelo dinamarquês Thomas Strømsholt, cuja abordagem também é poética. Mas distingue-se do experimento de Mark Valentine por trabalhar uma outra tradição poética: o pequeno poema em prosa, construção que atingiu um grau de sofisticação apreciável nas mãos de autores como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Oscar Wilde e Franz Kafka. Strømsholt ataca o gênero com perspicácia, astúcia, entrega e inteligência, trabalhando o sentido alegórico das pequenas construções narrativas com o cinzel da multiplicação dos sentidos – pois é o mistério da alegoria aberta o que alimenta o pequeno poema em prosa, efeito obtido com muita eficácia por Strømsholt notadamente no poema “The Glowing Heart”, gema wildeana na qual um inquisidor pagão – filósofo e poeta – confronta uma santa cristã, com resultados reveladores para ambos e, claro, para o leitor. O terceiro livro da amplitude que é Infra-Noir, “The Unfolding Map”, é uma pequena novela de John Howard. Trata-se de uma obra-prima da mistura que Howard costuma realizar entre realidade história, projeção fantástica e especulação filosófica. Pois a concisão e a precisão, aqui, aproxima essa refinada maravilha ficcional dos trabalhos de um H. G. Wells, de um Henry James ou de um William Gehardie. Na trama, acompanhamos as reuniões de um grupo, encabeçado por um líder nazista escalado por Berlim, em negociações a respeito das fronteiras, sempre móveis, entre Romênia e Hungria nos anos 1940. As discussões ocorrem em um fictício e refinado restaurante, localizado em fictícia localidade na Romênia – mas cada um desses elementos poderia ser real. Esse jogo de aparências está no núcleo da trama e de seu acontecimento climático, indefinível entre o sobrenatural, o mágico, o possível. O quarto livro fecha a metade poética de Infra-Noir: “Soot”, de Dan Watt, com ilustrações de Andrzej Welminski. Watt construiu uma prosa alimentada pela estranha confluência entre a humanidade e seus pequenos aparatos mecânicos, feitos para reconstruir e recortar obsessivamente uma realidade muitas vezes cinzenta, pétrea, sufocante. Esse jogo de enganos entre formas captadas pelos sentidos é exposto em seu âmago nos poemas de Watt e nas ilustrações de Welminski. Assim, temos personagens que buscam adivinhar estranhezas carregadas por outros, um circo que inverte o papel entre espectador e espetáculo, livros raros para rituais inabituais, transformações místicas. O quinto livro é “The Salamander Angel”, de Damian Murphy, outra novela com um curiosa estrutura de múltiplos personagens e pontos de vista. Trata-se de um formato bastante adequado, tendo em vista o fato da trama apresentar as múltiplas visões de um único evento apocalíptico, embora talvez invisível. A prosa da novela de Murphy segue uma formato obscuro e mesmo ocultista, com suas referências a rituais e práticas teosóficas, herméticas. As entrelaçadas visões dos personagens atingem um clímax imagético espantoso, inacreditável, com seus anjos apocalípticos transmutados de estátuas para um fragmento de magnetita, símbolo que serve como um tipo de unificador imagético. O último livro é mais uma novela, “The Slaves of Paradise”, de Colin Insole. A ficção de Insole se passa durante os anos de ocupação nazista da França, com essa estranha e ambígua mistura da vida cotidiana que seguia e as necessidades impostas pela colaboração e pela resistência. Esse universo, na trama, é o do cinema, que não poderia ser mais adequado para ilustrar as muitas ambiguidades da França sob ocupação nazista. A questão da traição involuntário e do logro deliberado – de uma perversidade acachapante – são os leitmotive da novela, com ressonâncias cinematográficas sutis: detectei referências aos filmes A sétima cruz (Seventh Cross, 1944) de Fred Zinnemann e O Boulevard do Crime (Les enfants du paradis, 1945) de Marcel Carné. Obra que não limita à homenagem de suas ricas fontes culturais e históricas, “The Slaves of Paradise” é outra gema preciosa dentro da vastidão de Infra-Noir. Infra-Noir segue a tradição hermética e sombria da fonte de seu título, a obra dos surrealistas romenos – em grande parte, conscientemente obscura ou perdida, uma vez que os membros dos círculos vanguardistas na Romênia utilizaram a obscuridade, a clandestinidade, mesmo o esquecimento como armas de resistência ao fascismo, nazismo e stalinismo. Foi uma estratégia arriscada, que parece também destinada ao ocaso em sua nova encarnação: um verdadeiro evento da literatura nessa segunda década do século XXI, a publicação das obras que estão congregadas em Infra-Noir, corre o risco de não passar das notas de rodapé de um ou outro veículo da mídia, voltada usualmente para a narração das pequenas e grandes catástrofes da Humanidade. Mas não é o que poderíamos esperar de algo tão monstruoso e tão magnificamente belo quanto um livro de areia? Escritor, pesquisador, colecionador, Andrew Condous mesclou realidade, ficção, literatura, bibliofilia em seu livro Letters from Oblivion, cujo foco foi a editora de Bucareste Les Éditions de L'Oubli, especializada em obras vanguardistas de autores como Gherasim Luca e Dolfi Trost. Obra única, mescla de relato histórico, memórias e ficção, projeta livros reais que parecem saídos de louca extrapolação ficcional e livros utópicos que parecem palpáveis como a matéria do sonho.
As vanguardas do início do século XX, de certa forma, estabeleceram uma interessante possibilidade utópica e internacionalista, que contradizia certa mitologia nacionalista cultivada desde o romantismo. Essa possibilidade se evidencia em seu livro, em como processos de fechamento (do fascismo e depois do stalinismo) inviabilizaram o universo cultural no qual o surrealismo romeno era possível. Nesse sentido, foi esse elemento, essa outra história possível, que o levou a escrever Letters from Oblivion? Se não, qual seria o principal motivador? As motivações principais, inicialmente, foram mais simples ampliando-se depois para o que podemos contemplar agora. Uma motivação inicial foi a ideia de produzir um relato histórico sem precedentes, que incluísse uma abordagem na qual a maior parte dos eventos factuais, locais e algumas das publicações jamais tiveram qualquer documentação. Também pretendia incluir referências a indivíduos que não eram comumente associados ao movimento surrealista romeno. Por isso, evitei propositalmente incluir o que já era conhecido ou documentado com exceção do que fosse absolutamente necessário para fornecer um contexto relevante. Esse relato histórico serviria, igualmente, para dispersar as afirmações de que a editora Les Éditions de L’Oubli seria uma espécie de ficção, para dispersar o mistério que parece cercá-la. Também estava motivado a destacar um autor em particular que não estava diretamente conectado ao surrealismo romeno mas que, por outro lado, possuía relações com eles e suas editoras. Tal autor foi particularmente ignorado embora prevejo que isso possa mudar no futuro. Quando o descobri pela primeira vez, anos atrás, creio que meu sentimento foi similar ao experimentado pelos surrealistas franceses quando da descoberta das obras do Conde de Lautréamont. Uma segunda motivação foi de natureza pessoal. Alguns dos eventos que aparecem em Letters from Oblivion são, na verdade, testemunhos em primeira mão, que me foram transmitidos (com extrema paixão) anos atrás por alguém que estava em Bucareste à época e que teve contato com os surrealistas romenos, com outros autores das vanguardas locais e com os editores. O que mais o impressionara foi a relação simbiótica entre intensa atividade criativa e destruição generalizada presente em Bucareste no período da guerra e que marcou a produção literária de tal momento histórico. Desejava documentar alguns desses testemunhos na forma de memórias anônimas, sendo que meu livro surgiu como meio perfeito para isso. Sem dúvida, também senti que era necessário fornecer alguma perspectiva histórica a respeito da Les Éditions de L’Oubli tendo em vista sua recente ressurreição e a qualidade do material publicado nessa segunda encarnação. Letters from Oblivion possui uma estrutura muito interessante e dinâmica: trata-se da recuperação de uma experiência editorial (da Les Éditions de L’Oubli na Bucareste dos anos 1940), de fato, mas isso não restringe a trama tecida à mera função de catálogo. Fluxos poéticos e narrativos coexistem com a funcionalidade da historiografia. O que o orientou na direção dessa síntese? Houve necessidade de fornecer texturas e coloração aos livros descritos, do conteúdo de cada um deles, bem como da atmosfera da época e dos personagens envolvidos. Mais que simplesmente inserir detalhes elaborados a partir de cada um desses aspectos, pensei que o melhor seria fornecer fortuita prosa ficcional que tentasse refletir e condensar todos esses elementos. É preciso destacar que a mescla de fato e ficção serve, também, como reflexo da percepção incorreta nutrida a respeito da própria Les Éditions de L’Oubli. A intensa e breve produção da Les Éditions de L’Oubli, tanto em termos de qualidade editorial quanto artística, possuiria algum paralelo na própria Romênia? Houve outras editoras que se lançaram em aventuras semelhantes? De modo geral, costumo incluir dentro de uma elevada categoria artística e editorial a maior parte dos editores ligados às vanguardas romenas e outros movimentos artísticos menos conhecidos como o expressionismo, simbolismo e decadentismo romenos – tanto em termos de livros publicados quanto de periódicos (jornais e revistas). Há várias editoras e periódicos que poderiam ser citados (Unu e Alge seriam os mais notáveis exemplos entre as publicações), não nos limitando apenas a pequenas editoras, pois poderia mencionar algumas editoras maiores como a Socec. Vários editores em Craiova também mereciam, nesse sentido, uma menção em particular durante o período no qual vigoravam leis de restrição de publicações em Bucareste. Também é necessário mencionar as revistas dos simbolistas romenos, especialmente aquelas associadas a Macedonski – como Flacara e Versuri si Proza. No Brasil, um grupo de vanguardistas – que se autodenominava "antropófago" – subverteu a visão pitoresca e o exotismo convencional aplicado aos países tropicais, empregando esses dois conceitos como armas para produção estética. Haveria algo análogo entre os vanguardistas romenos os quais você pesquisou, talvez em sua posição geográfica "nos limites do Ocidente"? Como era o trabalho de autores como Trost e Luca com as noções de exótico e pitoresco que eventualmente foram aplicadas a eles? É interessante sua menção ao "antropófago", essa referência, que pode ser feita em relação ao núcleo do Grupo dos Cinco, salta à minha mente de forma imediata e, de fato, paralelos são possíveis com o mencionado Grupo, mesmo que os manifestos, tendências, trabalhos artístico-literários e contextos culturais sejam diferentes em algumas questões concretas – mas creio que não diametralmente diferentes, especialmente tendo em vista a base teórica de tais grupos (ou seja, Breton, Freud, Picabia, etc.). Uma análise comparativa seria um caminho interessante, embora complexo, a se explorar. Não saberia dizer, nesse sentido, se a posição geográfica da Romênia, por si mesma, foi um fator significativo – talvez a questão esteja mais em sua capital, a percepção de que era uma versão exótica ou, de certa forma, uma extravagante irmã mais nova da grande capital que é Paris, "a Paris do leste" como costuma ser chamada. De qualquer forma, em termos de literatura, essa comparação é relevante em muitos sentidos mas não em termos da internacionalização da literatura. Poucos autores romenos – incluindo, por exemplo, Tzara, Eliade, Cioran, Ionesco, etc. – e em sentido mais estrito outros como Luca ou Naum, são conhecidos pelo público estrangeiro, de um modo geral. A maior parte dos autores romenos, atravessando os diversos movimentos literários que caracterizam a literatura local (incluindo os membros do grupo surrealista), permanecem exóticos. Em geral, uma estética ocidentalizante, exótica e pitoresca é evidente em outras vanguardas romenas (os construtivistas e expressionistas, por exemplo) e em artistas como Scarlat Callimachi, Horia Bonciu, Aron Cotrus. Muito mais que nos surrealistas romenos. Para a maior parte dos leitores de fora da Romênia, a vertente surrealista local, a vanguarda em sentido amplo, mesmo a cidade de Bucareste, persistem em manter esse fascínio estranho e bizarro, no qual entram beleza e sofisticação mas que merece ser revisitado da mesma maneira que se vai ao museu: para obter mais um vislumbre de um objeto estranho, excitante e fora do usual. Certa vez, André Breton observou que "o centro do mundo se moveu para Bucareste". Para mim e para alguns outros fora da capital Romena, esse "centro do mundo" não mudou necessariamente de lugar em alguns aspectos. Um dos fatos que percebemos durante a leitura de Letters é como a construção de redes foi importante para a produção cultural vanguardista no século XX, com editoras e revistas conectando constantemente autores, leitores, comentadores, etc. Nesse sentido, Les Éditions de L’Oubli é exemplar. Ao que você atribui o sucesso dessa rede de conexões no caso de uma pequena editora na Romênia dos anos 1940, em plena Segunda Guerra Mundial? O sucesso, nesse caso, pode ser atribuído ao dono da editora, figura destacada em Letters from Oblivion, e sua esposa. Foi esse reduzidíssimo time e as muitas conexões – que possuíam com escritores da vanguarda na Romênia, impressores, fornecedores de artigos de papelaria, os correios, as várias "sociedades secretas" que floresceram à época – o que permitiu a publicação e distribuição dos livros produzidos. O extraordinário nível de dedicação, discrição e engenhosidade alcançado surge como algo quase impossível. Certamente, o comprometimento que tiveram destaca-se como um ato de coragem, tendo em vista o contexto extremamente delicado, perigoso e imprevisível. Além disso, é necessário destacar o antecessor movimento simbolista romeno (que envolvia Minulescu, Macedonski, Maniu, Bacovia), as conexões e estruturas estabelecidas por esse grupo literário, essenciais como alicerce para as interconexões que se estabeleceram no período posterior, das vanguardas. Embora Gherasim Luca seja um autor relativamente conhecido, traduzido e publicado, o mesmo não ocorre com muitos de seus companheiros (Trost, Teodorescu, etc.). Nesse sentido, nem mesmo o idioma seria um impedimento, uma vez que Trost – como Luca – escreveu também em francês. Qual seria, em sua opinião, o motivo desse injusto esquecimento? Dos surrealistas romenos apenas Gherasim Luca e Gellu Naum ganharam certo renome internacional. Dolfi Trost, Paul Paun e Virgil Teodoresco permaneceram relativamente obscuros. Isso é verdadeiro. Contudo, mesmo no caso de Luca e Naum, os primeiros trabalhos por eles produzidos também são pouco conhecidos e negligenciados até certo ponto. Por exemplo, no caso de Luca, seus trabalhos anteriores à Segunda Guerra Mundial são em larga medida ignorados. Quase todos esses trabalhos foram escritos em romeno, de modo que o idioma deve ter alguma influência nisso. Há um bom número de obras escritas durante os anos 1930, publicadas em diversos jornais e revistas, muitas das quais foram completamente esquecidas (algumas dessas publicações foram mencionadas em Letters from Oblivion, em especial no contexto do capítulo "The Outlaw"). Um exemplo mais óbvio são as primeiras publicações de Luca, consideravelmente obscuras: a infame (à época) Roman de Dragoste e Fata Morgana, de 1933 e 1937, respectivamente. Mas a teoria do idioma como limitador pode ser um pouco minimizada tendo em vista a atenção dada aos dois livros, escritos em romeno, que Luca publicou pela Editura Negatia Negatiei Negrata. No caso de Luca (e de Naum), é possível culpar esse esquecimento pelo fato das primeiras obras de ambos serem de difícil acesso. No caso de Dolfi Trost, o esquecimento não pode ser atribuído a questões de idioma uma vez que ele usou (como Luca) o francês como idioma predominante em sua escrita durante e após o período de atividade do grupo surrealista romeno. Atualmente, ele é em geral mais reconhecido por uma ou duas técnicas artísticas por ele inventadas do que pela sua obra escrita (com exceção de uma coautoria com Luca no livro Dialectique de la Dialectique), o que é injusto tendo em vista a excelência e a importância daquilo que ele produziu, especialmente o material publicado pela Les Éditions de L'Oubli e Infra Noir. Uma razão possível estaria no fato que Trost não possuía um bom nível de contato com os círculos parisienses que outros, como Luca, dispunham. Contudo, essa explicação seria relevante até certo ponto, especialmente porque Trost chegou a publicar dois livros no início dos anos 1950 em Paris (Visible et invisible e Librement mécanique). Penso que uma razão mais certeira da obscuridade de Trost se situe na decisão do autor em migrar para os EUA e abandonar a literatura (ao contrário de Luca, que continuou escrevendo e publicando em Paris) e no fato de suas primeiras obras serem tão raras. Acredito que essa obscuridade seria menor se um extraordinário livro que ele planejava lançar com Luca, mencionado em Letters from Oblivion, não tivesse "desaparecido" [nota: trata-se de L'Invisibilite d'une reve]. O esquecimento de Paul Paun e Virgil Teodorescu pode ser atribuído, de maneira mais direta, ao fato de nunca terem sido publicados fora de Bucareste (exceção feita ao último trabalho de Paun, publicado em Israel) embora, novamente, a dificuldade em encontrar as primeiras obras tenha alguma relevância aqui. Teodorescu, contudo, não pode ser considerado um estranho dentro dos limites da Romênia uma vez que decidiu permanecer em Bucareste. Minha esperança sincera é que esses três esquecidos surrealistas romenos possam ser descobertos e traduzidos para outros idiomas, uma vez que suas poderosas obras constituem importante contribuição ao movimento surrealista internacional. Indiscutivelmente, Trost, Paun e Teodorescu escreveram ao menos um trabalho que pode ser visto como uma das obras-primas da literatura de vanguarda romena na primeira metade do século anterior. Algo em seu livro me trouxe à mente a narrativa de um filme documentário – registro de fatos, mas também trabalho meditado de construção formal. Essa forma faz com que seu trabalho destoe da linha seguida pela Ex Occidente/Zagava Press, centrada na ficção, embora mantenha curiosamente uma relação íntima com outras obras igualmente únicas do catálogo de ambas editoras (penso especialmente em At Dusk, de Mark Valentine, com seus níveis de ficção poética e realidade histórica ao evocar a vida de poetas da vanguarda do século XX). Pretende retomar essa abordagem em livros futuros? Quais seriam, nesses casos, os temas possíveis? Ou tentará, talvez, a ficção? Sim, de fato pretendo utilizar novamente essa abordagem, mas de formas variadas. Atualmente, escrevo um ensaio fictício incorporando os trabalhos de ficção e teoria de Maurice Blanchot por conta de uma futura homenagem a esse autor, que será editada por Dan Ghetu e Dan Watt pela Zagava/Ex Occidente. Também estou nos estágios iniciais de desenvolvimento de alguns projetos mais ambiciosos. Um deles envolve o tema da fertilização cruzada das vanguardas e dos movimentos surrealistas na Europa e América Latina. Nesse trabalho, cada capítulo será dedicado a um autor latino-americano ou europeu que esteve fisicamente localizado, de alguma forma, entre esses dois continentes. Será uma pesquisa histórica transcontinental analítica, mas com relatos ficcionais. Conforme o livro avança, o nível de obscuridade do autor analisada também será maior. O mais importante e complexo livro ao qual me dedico será um segundo volume, dedicado aos desenvolvimentos ou extrapolação do que está em Letters from Oblivion. Esse livro consistirá, como conceito central, de uma singular e única abordagem da obra de Fernando Pessoa. O título, Fictions from Oblivion. Abaixo, gravura "entóptica" (ou seja, feita a partir das irregularidades de cor presentes na folha de papel) de Dolfi Trost, que iliustra seu livro Vision dans le Cristal, Oniromancie obsessionelle (Et neuf graphomanies entoptiques), publicado pela Les Éditions de L'Oublie em 1945. |
Alcebiades DinizArcana Bibliotheca Arquivos
January 2021
Categories
All
|
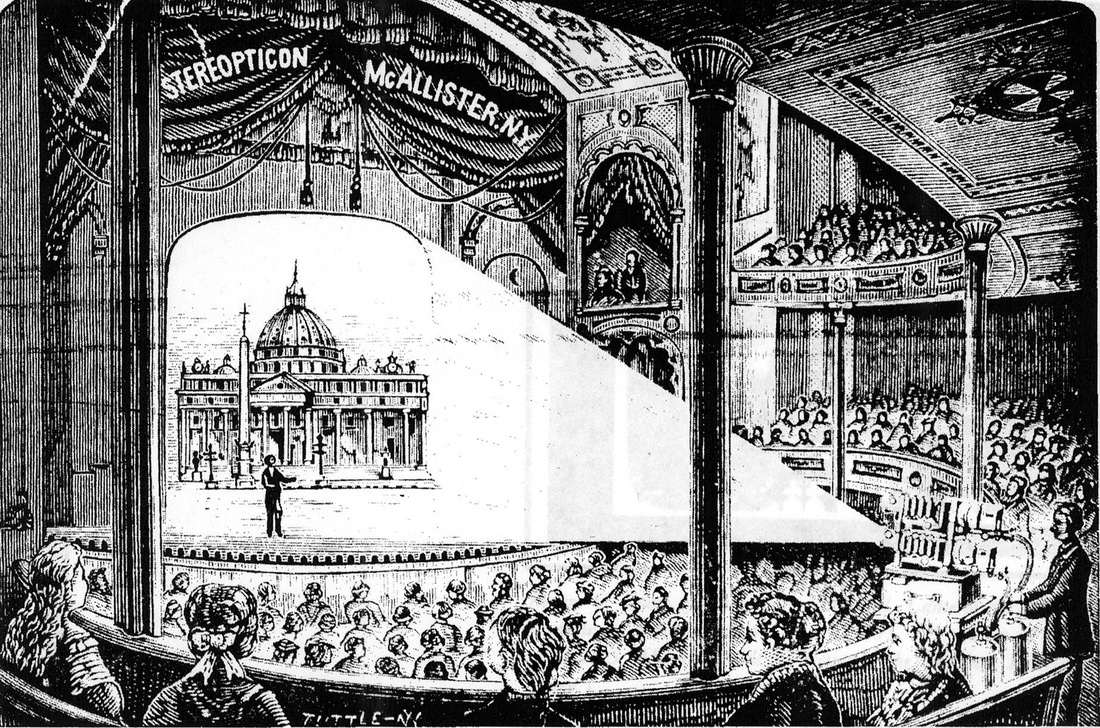






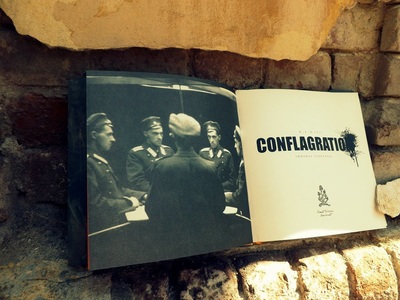


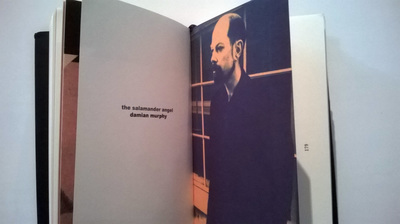


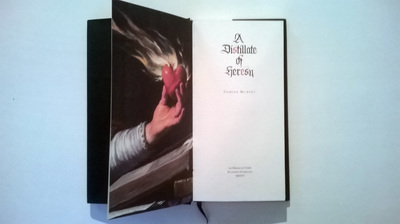
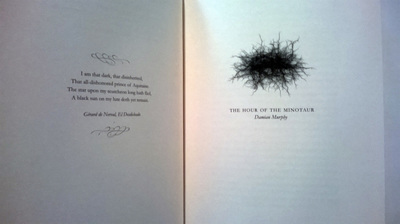






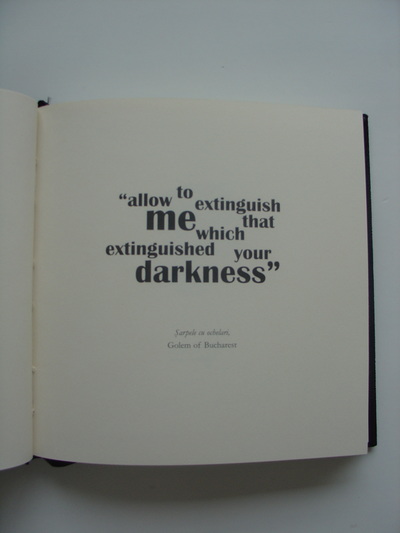



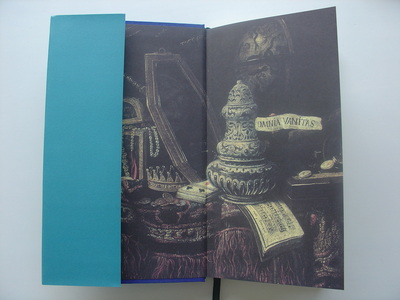
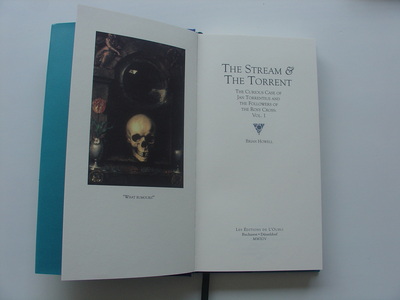
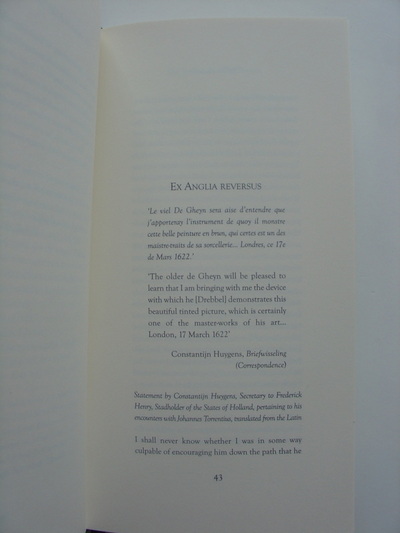
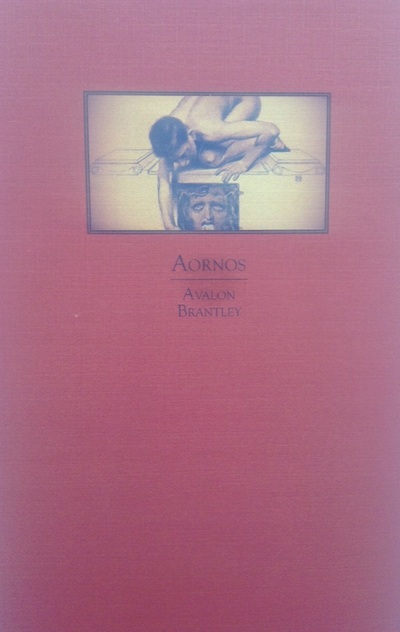
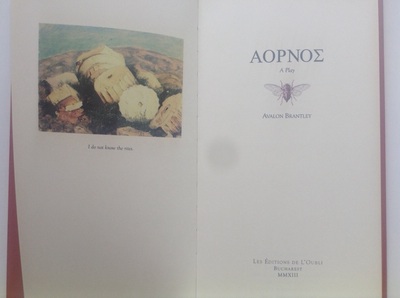
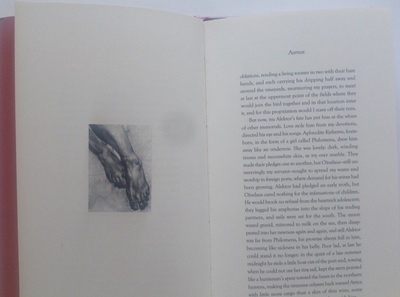
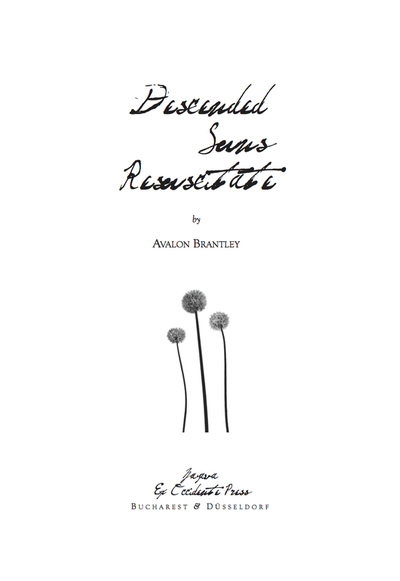
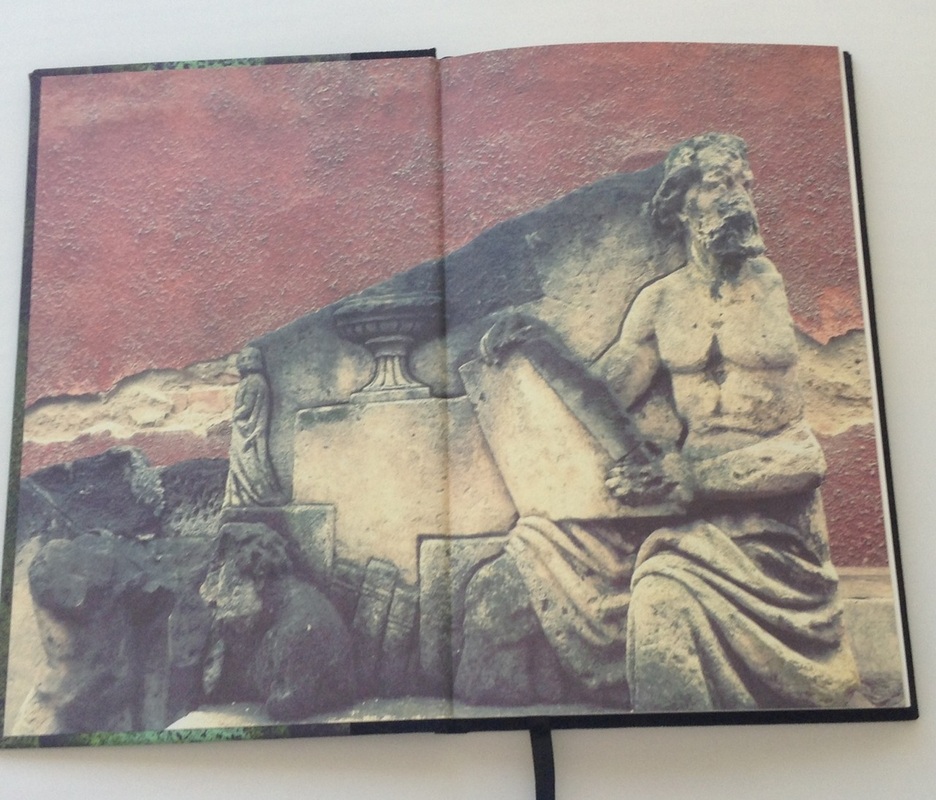



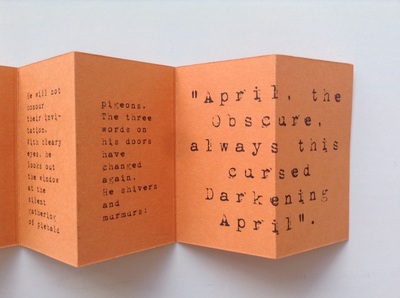

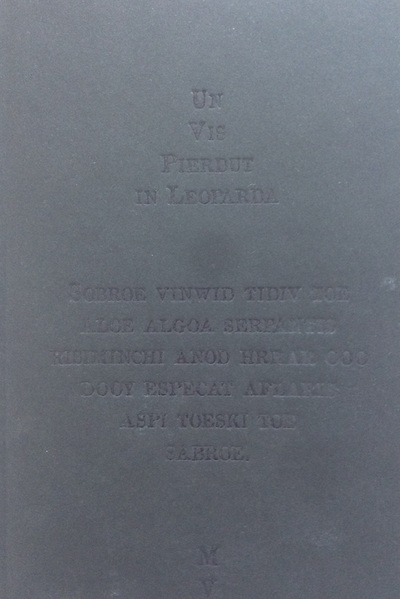



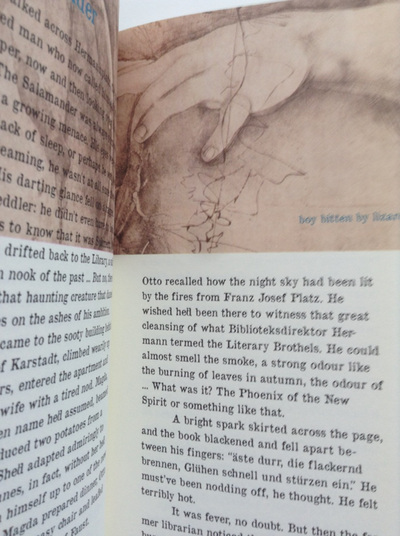

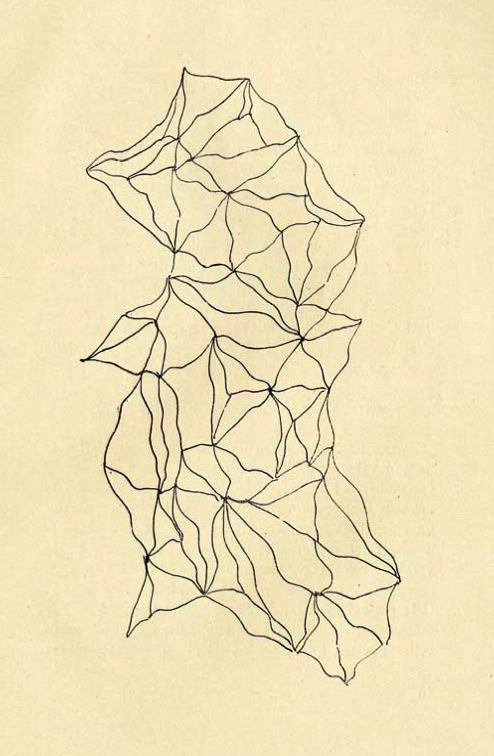
 RSS Feed
RSS Feed
